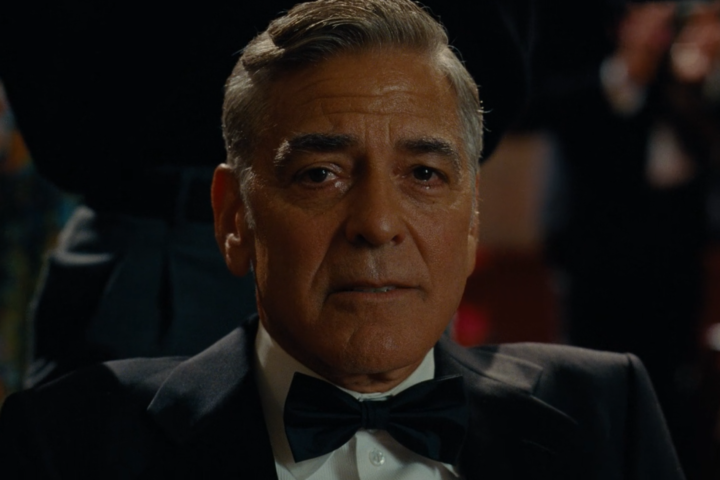Ao longo do mês de novembro, parte importante da programação da Cinemateca Portuguesa centrou-se no ciclo “Cinema Experimental Português: O Cinema dos Artistas, Anos 60 e 70”. Trata-se da primeira parte de um programa, com continuação prevista para a primeira metade de 2026, dedicado a obras de artistas plásticos portugueses que, entre outras técnicas de expressão artística – a pintura, o desenho, a fotografia, a escultura, a performance ou o cruzamento entre vários mediums –, recorreram aos suportes do filme ou do vídeo na sua prática. Aproveitámos uma conversa com a programadora Joana Ascensão, também responsável pelas mostras dedicadas a Chris Marker, Ernie Gehr, Michael Snow ou Stan Brakhage, para fazer um balanço sobre a actividade intensa que aconteceu nas salas da Cinemateca Portuguesa, entre a exibição de filmes e slides, performances musicais e conversas com o público, que antecederam e concluíram cada sessão. Futuramente, ainda acontecerá a edição de uma publicação que, de acordo com a programadora, também sistematizará a produção de conhecimento que a diversidade desta programação acabará por impulsionar.

Embora haja a colaboração com coleções privadas, incluindo dos próprios artistas, e outras instituições como a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação de Serralves e a RTP, muitas das cópias exibidas estão depositadas no arquivo da Cinemateca Portuguesa, enquanto parte do esforço de conservação do cinema português por meio de fundos provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência. No caso de filmes na posse dos artistas, houve a vontade de os sensibilizar para poderem depositar os negativos nos arquivos da Cinemateca Portuguesa, onde podem ser preservados segundo as melhores práticas de conservação. Na verdade, a exibição de algumas obras é apenas possível porque foram utilizados equipas e recursos na digitalização de títulos apenas disponíveis em formatos perecíveis que desaconselham a sua utilização em exibições. Trata-se de um processo em curso, que está a permitir, por exemplo, a recuperação e conservação de obras, bem como de faixas de áudio que se achavam perdidas.
O ciclo “Cinema Experimental Português: O Cinema dos Artistas, Anos 60 e 70” propõe o encontro com um conjunto de obras que foram, maioritariamente, produzidas no período Pré e Pós-revolucionário, marcado pelo fim de uma longa ditadura que exercia o poder por meio de uma censura vigorosa e de uma repressão social estrangulante, que promovia o isolamento cultural.
Não se trata da primeira apresentação pública destes corpos de trabalho, destacando-se o programa SlowMotion, comissariado por Miguel Wandschneider e iniciado em 2000 na Escola Superior de Artes e Design (ESAD, Caldas da Rainha), e outras mostras pontuais, incluindo na própria Cinemateca Portuguesa. O programa “Cinema Experimental Português” convoca um conjunto de obras, distribuindo-as por núcleos dedicados a cada artista. Ana Hatherly, António Palolo, Carlos Calvet, Ernesto de Sousa, Fernando Calhau, Helena Almeida, Julião Sarmento, Lourdes Castro, Luís Noronha da Costa, Silvestre Pestana e Vítor Pomar foram os artistas convocados para cada desses núcleos. Joana Ascensão destaca o papel de Miguel Wandschneider no levantamento e divulgação de obras de artistas portugueses que exploram a imagem em movimento, seja no seminal SlowMotion – que incentivou vários participantes a retomar, refazer e finalizar projetos -, na retrospetiva dedicada a Luís Noronha da Costa no CCB em 2003 (com Nuno Faria), ou enquanto responsável pela programação de arte contemporânea da Culturgest. Porém, o presente programa da Cinemateca, ao se focar num determinado limite temporal, atravessa um período em que os artistas exploraram maioritariamente o filme, uma vez que o acesso a equipamentos de vídeo de fácil manuseamento ainda não estava normalizado no país.
Entre o final dos anos 1960 e meados da década seguinte, os artistas plásticos portugueses interessados em explorar a imagem em movimento recorreram ao filme enquanto suporte. Só no final da década de 1970, alguns tiveram acesso a equipamentos de vídeo – como refere Miguel Wandschneider, exemplificando com os casos de Julião Sarmento, Fernando Calhau, António Palolo, José de Carvalho, José Conduto ou Joana Rosa –, por vezes recorrendo a câmaras disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Cultura. Passaram a utilizar vídeo na sua prática a partir daí, embora de forma muito moderada. Na década de 1980, o vídeo regressou a uma quase invisibilidade, com o retorno das técnicas tradicionais de expressão, nomeadamente a pintura e a escultura, e a resistência contra o experimentalismo da década anterior. Apenas a partir dos anos 1990, acrescenta Wandschneider, se vulgarizou o uso do vídeo pelos artistas das novas gerações, que não se identificavam com as disciplinas clássicas, e assim passaram a experienciar a democratização do acesso a tecnologias sofisticadas de edição e captação de imagens, ainda que com um desfasamento cronológico em relação ao que se passava no campo internacional.
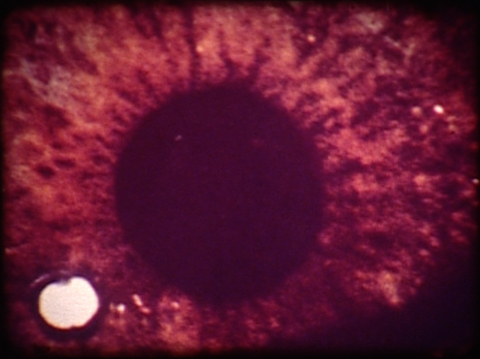
Carlos Calvet é considerado um dos pioneiros do cinema experimental português, cujo trabalho dá seguimento às vanguardas das décadas de 1920 e 1930, de que A Dança dos Paroxismos (1930), de Jorge Brum do Canto, é o exemplo mais paradigmático, mas onde também cabem Maria do Mar (1930), de José Leitão de Barros, ou Douro, Faina Fluvial (1931), de Manoel de Oliveira. Não deixa de ser um sinal do posicionamento de Calvet, o facto de ter convidado Mário Cesariny, figura de proa do surrealismo português, para protagonizar Momentos na Vida do Poeta (1964). Enquanto “cadavre exquis”, como o considera Calvet, invocando o jogo de escrita e desenho surrealista, o curto filme acrescenta possibilidades narrativas não propriamente lineares que levam a resultados surpreendentes e inesperados, desde o enorme objeto em forma de inseto que parece subir pela fachada de um prédio até ao homem suspenso no interior do armário utilizado pelo poeta Cesariny. Tendo em conta o isolamento de Portugal na época – dificilmente seria eco do “trance film” – prática do experimentalismo norte-americano, não é difícil olhar para Cesariny como um sonhador acordado de Le sang d’un poète (O Sangue de Um Poeta, 1932), de Jean Cocteau. Entre outros filmes, quase sempre mudos, em formatos de 8 mm e Super 8, Calvet experimenta as noções de ritmo e composição, de que Estudo de Camioneta Abandonada (1960), composto por sucessivos planos sobre uma viatura perdida num espaço público lisboeta, como que na busca de um sentido onde não há sentido, é exemplar. Olhamos para um mundo a preto e branco, cercado e sem hipótese de fuga a que apenas a cor e o som do home movie Venezia 1959 (1959) aparecem como hipóteses de fuga, paradoxalmente numa cidade que vive mais do romantismo e da contemplação do que da febre tecnológica e da aceleração das sinfonias urbanas do princípio do século.
Ainda de Calvet, Um Dia no Guincho, com Ernesto (1969) foi o primeiro dos filmes mostrados que regista um happening que reuniu vários artistas de diferentes áreas, organizado por Ernesto de Sousa, com o apoio de Luís Noronha da Costa, no âmbito da Oficina Experimental. Num encontro entre a vida e a arte, o projeto consistiu no transporte para o local de um objecto concebido por Noronha da Costa para ser destruído a tiro, seguido de um convívio na Rinchoa. Outros filmes exibidos, assinados por Manuel Torres e Joaquim Barata, documentam o encontro, apontando diferentes visões sobre o mesmo evento, e que no contexto desta mostra assume particular importância por mostrar autores ou participantes noutros filmes do ciclo, para além dos mencionados, como Ana Hatherly, E. M. Melo e Castro, Fernando Pernes ou Helena Almeida. Nas palavras de Ernesto de Sousa, o encontro pretende traduzir a discussão da “valência do conceptual sobre o objectual, do projecto sobre o objecto”, do “encontro como arte” e do “passado como arte”. Numa das sessões, Isabel Alves proporcionou outro olhar sobre o evento por meio de um conjunto de slides sobre o convívio, onde identificou alguns dos artistas presentes.
Em 1977, com “Alternativa Zero”, Fernando Curado Matos proporciona um olhar sobre a exposição “Tendências Polémicas da Arte Portuguesa Contemporânea” que fez parte deste conjunto de eventos organizados por Ernesto de Sousa. No contexto pós-revolucionário, entre os processos de produção e montagem, e a inauguração com a chegada dos convidados e do público, o evento procura eliminar o isolamento da criação artística do país proporcionando um encontro entre os artistas que trabalhavam dentro e fora dele. O filme oferece um olhar singular sobre as contaminações e o contexto artístico prolífico que se seguiu à instauração da democracia, bem patente nas imagens da visita de The Living Theatre, companhia norte-americana de teatro focada num processo experimental, em que é diluída a fronteira entre os intérpretes e o público. Embora não tenha participado no evento “Alternativa Zero”, e combinando o desenvolvimento do seu trabalho dentro e fora do país, Lourdes Castro participou em vários colectivos com outros artistas, incluindo os responsáveis pela autoria de O Amor que Purifica (1970) e Trotoário Azul (1970), foto-novelos rodados no Funchal que apontam para a diluição de fronteiras, entre a arte e a vida, a imagem e o texto, a imagem fixa e em movimento. Mas é nos registos fílmicos dedicados ao projeto Teatro de Sombras que melhor se compreende a sua conhecida marca autoral, por meio de projecções com perfis e sombras a partir dos seus actos performativos.

Outra das descobertas do ciclo foi a série “Obrigatório Não Ver”, organizada e apresentada por Ana Hatherly para a RTP2, entre 1978 e 1979, demonstrativa do seu papel de divulgadora da arte de vanguarda. Sendo incerta a existência de todas as imagens da série no arquivo da RTP, algo que em 2009 levou a artista a publicar o livro homónimo com os guiões, o ciclo recuperou uma entrevista a Fernando Pernes a propósito de uma exposição de Jochen Gerz, um encontro entre a Anar Band e E. M. de Melo e Castro na Cooperativa Árvore (Porto) e a performance Episódios (1979), de Emília Nadal. A Anar Band, na altura composta por Jorge Lima Barreto e Rui Reininho, a improvisar música entre o experimentalismo e a pop mais lúdica, como se não houvesse fronteira entre as duas, e Melo e Castro a “cantar” dois poemas da sua autoria, por momentos quase a encarnar a postura de Alan Vega nos Suicide, é um documento singular da experimentação em Portugal nos anos que se seguiram à revolução do 25 de Abril e que nos leva a elevar as expectativas sobre aquilo que o programa de Hatherly ainda poderá esconder. Numa coincidência feliz, a realização do ciclo decorreu enquanto a editora Holuzam prepara o lançamento em vinil do áudio da performance da Anar Band com E. M. de Melo e Castro e que, referiu José Moura, antecede uma publicação dedicada aos Telectu, cujos músicos, Jorge Lima Barreto e Vítor Rua, estão intimamente ligados ao cinema experimental português deste período.
Ainda de Ana Hatherly, vimos os mais conhecidos: Diga-me, o Que é a Ciência? – I (1976-2009) e Diga-me, o Que é a Ciência? – II (1976-2009), em que a ideia de ciência é revisitada por camponeses e operários; e Revolução (1975), representação de Portugal na Bienal de Veneza, e uma colagem que junta imagens aceleradas de detalhes dos cartazes e murais que confirmavam a viragem política, em paralelo com vozes que marcaram o momento da revolução, invocando a série “As Ruas de Lisboa” (1977), processo de descolagem de cartazes, seguido da sua reorganização em painéis, acrescentando imagens retiradas de anúncios e publicidade. A estes seguiu-se Rotura (1977-2007), apresentado numa versão mais longa, filme que regista a performance da artista na Galeria Quadrum, trajada com uma boina de pintor, desenhando no papel por meio de cortes, pouco depois de ter apresentado Poema D’entro (1977), performance em que, por um processo semelhante, surgem painéis de papel branco rasgados, inclusive pela intervenção do público, no evento “Alternativa Zero”.
Esta performatividade do corpo sobre o papel encontra paralelo nos filmes de Helena Almeida, décadas depois também representante de Portugal na Bienal de Veneza, que surgem como testemunhos de performances da artista, em que os títulos questionam o que é representado. Em Ouve-Me (1979), sem som, por detrás de uma tela translúcida, a artista utiliza a boca para pronunciar e desenhar, dentro de um processo a que chamou “desenho habitado” e que Joana Ascensão explorou no documentário Pintura Habitada (2006) que dedicou à artista. Por outro lado, do mesmo ano e da mesma série, Vê-me omite a visualização da ação e oferece o “som” do desenho, do grafite a desenhar sobre o papel, algo que a artista nas notas pede para ouvir com o máximo do volume. Esta obra reenvia-nos para o filme mudo Música Negativa (Performance de E.M. de Melo E Castro) (1965), de Ana Hatherly, exibido poucos dias antes, um happening “sonoro” centrado no corpo e não no som, em que o artista multidisciplinar simula tocar chocalhos. Trata-se de uma imagem poderosa do contexto silenciador imposto pelas acções de denúncia e agressão levadas a cabo pela ditadura, como refere a investigadora Cláudia Madeira.

O trabalho de Luís Noronha da Costa já tinha sido apresentado na Cinemateca Portuguesa a acompanhar a exposição “Noronha da Costa Revisitado (1965-1983)” (2003), comissariada por Miguel Wandschneider e Nuno Faria no Centro Cultural de Belém. Um dos seus primeiros filmes, A Menina Maria (1972), é um olhar obsessivo, quase como uma câmara de vigilância, sobre uma vizinha que vive em frente à casa do artista a observar o quotidiano da rua, que remete para um certo imaginário das comédias portuguesas, aqui deslocado da proximidade dos bairros populares para a circunspecção dos edifícios modernistas das Avenidas Novas. Na altura da exposição, João Bénard da Costa escreveu que o filme, cujo dispositivo caseiro é encontrado noutros dos seus filmes da época, é fundamental para a afirmação do artista como cineasta devido à “experimentação” e ao “divertimento libérrimo”. Outra faceta na sua obra em filme até à chegada da revolução coincide com o direccionar do seu olhar para outras obsessões: Manuela (1972) é dedicado à atriz Manuela de Freitas e ao seu trabalho na companhia de teatro Comuna; Murnau (1972) atesta a sua compreensão da história do cinema; e Karl Marx e Martin Heidegger em Karl Martin (1974), na sua relação entre as culturas popular e erudita, ironizada pela presença de um vampiro em modo burlesco com o sinal de uma cruz na testa, cercado por uma natureza que, tanto pela sua imponência ou pela sua ambivalência, não deixa de ser evocada em certos imaginários da cultura germânica.
Embora a ficção não seja um formato comum na obra destes artistas, há momentos importantes a destacar. Em plena ditadura, com Dom Roberto (1962), Ernesto de Sousa parte dos espaços populares e das pinceladas neorrealistas para construir um dos pontos de partida para o movimento do Novo Cinema, ao lado de Acto da Primavera (1963) de Manoel de Oliveira ou Os Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha. No período de passagem para a democracia, Luís Noronha da Costa repesca o formato da ficção em Padres (1975), D. Jaime ou a Noite Portuguesa (1974) e O Construtor de Anjos (1978). Filmado em Sintra, este último encontra filiação no fantástico e no terror, tendo sido apresentado na secção Quarto Perdido do MOTELX, dedicada à produção portuguesa dentro destes géneros cinematográficos. A riqueza das personagens e dos diálogos são envoltos pelos ambientes sombrios de Sintra, compostos por vegetação luxuriante e casas senhoriais, numa história de crianças acolhidas num convento, onde são assassinadas, ao que João Bénard da Costa interliga com a pintura do artista, o cinema da produtora britânica Hammer e o romantismo saxónico.
Uma ligação mais evidente com o panorama internacional do cinema experimental foi-nos apresentada a partir das obras de António Palolo, Julião Sarmento, Silvestre Pestana e Vítor Pomar. Palolo, assinala Joana Ascensão, é dos artistas que, durante uma década, produz filmes de forma mais consistente e continuada. Apresentados por ordem cronológica, desde as experiências relacionadas com figuras populares, por vezes retiradas de jornais e revistas, e imagens do quotidiano até à intervenção direta sobre a película. Sem som e pelo processo de raspagem sobre a superfície do filme, formando riscos e manchas, Drawings (1971) torna-se num estudo sob a vertigem da luz e do ritmo, em que, por momentos, se desvendam pequenos momentos figurativos. À luz do pensamento de Stan Brakhage, tratar-se-ia de música para os olhos em que quase se pode ouvir cada corte, e que o som, enquanto erro estético, se fosse adicionado, não se prestaria ao diálogo e afirmaria a sua redundância.

Da colecção da Fundação de Serralves, que em 2016 lhe dedicou a retrospectiva “Tecnoforma”, assinalando a relevância da sua obra na exploração do confronto entre a sociedade, a arte e a tecnologia, vieram filmes assinados por Silvestre Pestana, cujos primeiros títulos se encontram perdidos, que são um testemunho do pioneirismo no país do uso do vídeo na criação artística. Exilado na Suécia até à implantação da democracia, onde prosseguiu os seus estudos artísticos e acompanhou avidamente os filmes que as instituições americanas exibiam – do Minimalismo à Land Art, declara-se um grande admirador da obra do multifacetado artista canadiano Michael Snow. Tal como Michael Snow, a obra de Silveste Pestana percorre vários suportes das artes visuais, desde o desenho à fotografia, da escultura à instalação, da performance até ao vídeo. Mas se olharmos para o modo como Pestana combina as artes visuais com a performance, a música, e a literatura, é do movimento vanguardista Fluxus que nos lembramos, principalmente do seu membro Nam June Paik pela interacção entre o corpo humano, as questões filosóficas e os dispositivos tecnológicos. Regista-se a ligação de Pestana à poesia concreta e a E. M. de Melo e Castro, a quem dedicou um dos seus três poemas visuais gerados por computador, quando os primeiros microcomputadores para uso pessoal surgiam no mercado doméstico.
Neste momento significativo da história portuguesa, o cinema dos artistas conheceu um experimentalismo sem precedentes que acompanhou as evoluções tecnológicas, principalmente com a implantação e democratização da utilização dos equipamentos de vídeo.
De Fernando Calhau, o programa exibiu a totalidade dos filmes que produziu neste período, originalmente filmados em Super 8 mm – com a duração ditada pelos cerca de três minutos da duração da bobina e quase sempre num único plano fixo, incluindo o rejeitado Mar III (1976/2001) que, em 2001, repetiu em suporte vídeo, “regressando exactamente aos mesmos locais que registara anteriormente, e assumindo essa nova versão como um ‘remake’”. Segundo Joana Ascensão, na segunda parte do programa, poderemos encontrar, integrado num trabalho de Ernesto de Sousa, a primeira versão de Mar III, concebido como parte de uma série vocacionada para instalações: Mar I e Mar II, ambos de 1976 e em dupla projecção, e Mar III, em tripla projecção. Alinhada na temática do mar e numa prática de ordem conceptual que explora a relação entre a imagem fixa e a imagem em movimento, esta série relaciona-se com fotografias que o artista produzira em Londres, entre 1973 e 1974. Para além das questões do espaço, refere a programadora, estas obras também nos reenviam para a exploração da ideia de tempo enquanto questão intrínseca do cinema.
O caso de Vítor Pomar é aquele que Joana Ascensão melhor aproxima do universo do cinema experimental americano, tendo o artista reconhecido o seu interesse pelas obras de Jonas Mekas, Michael Snow e Stan Brakhage. Nos seus filmes diarísticos, rodados em 16 mm, não só sentimos essa familiaridade, como compreendemos a sua consistência na forma como foram pensados enquanto “filmes”, no que diz respeito à questão do tempo e do espaço, ou mesmo das personagens. A sala de cinema surge com naturalidade como o espaço privilegiado para a apresentação destes filmes, uma vez que a sua duração longa exige um certo nível de envolvimento e oferece uma experiência diferente daquela que o espectador teria num espaço galerístico ou museológico, onde este pode melhor impor os seus próprios termos sobre o contexto de exibição. A sala da Cinemateca Portuguesa proporcionou ao espectador a marcação clara de um princípio e de um fim – sem a possibilidade de um “loop” com que pudesse renovar a experiência –, bem como uma disponibilidade própria e outra capacidade de concentração, algo que o artista reconheceu numa das conversas. Neste ponto, aproxima-se da contemplação que pedem os filmes com maior duração de Julião Sarmento, que deste grupo de artistas é provavelmente aquele com uma maior presença no circuito galerístico e comercial, tendo inclusive um centro dedicado à sua colecção e rede de interesses em Lisboa.

O ciclo “Cinema Experimental Português: O Cinema dos Artistas, Anos 60 e 70” propõe o encontro com um conjunto de obras que foram, maioritariamente, produzidas no período Pré e Pós-revolucionário, marcado pelo fim de uma longa ditadura que exercia o poder por meio de uma censura vigorosa e de uma repressão social estrangulante, que promovia o isolamento cultural. Isto não invalidou que os artistas produzissem obras e eventos, por vezes recorrendo a colectivos, que subtilmente poderiam questionar o regime totalitário e perfurar o contexto isolacionista. Outros artistas exilaram-se noutros países, onde prosseguiram estudos ou práticas que mais facilmente poderiam ser contaminadas pelo panorama artístico internacional. Apesar da rápida extinção do regime autoritário, os movimentos de consolidação democrática foram lentos, aponta Richard Gunther. Neste momento significativo da história portuguesa, o cinema dos artistas conheceu um experimentalismo sem precedentes que acompanhou as evoluções tecnológicas, principalmente com a implantação e democratização da utilização dos equipamentos de vídeo. São ideias para reflectir e aprofundar em 2026, ao longo da segunda parte deste ciclo da Cinemateca Portuguesa que, segundo Joana Ascensão, terá o foco nas obras de Albuquerque Mendes, Ângelo de Sousa, Artur Varela, E. M. de Melo e Castro, Eduardo Nery, Ernesto de Sousa e Grupo Puzzle.