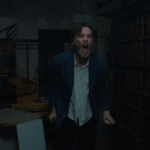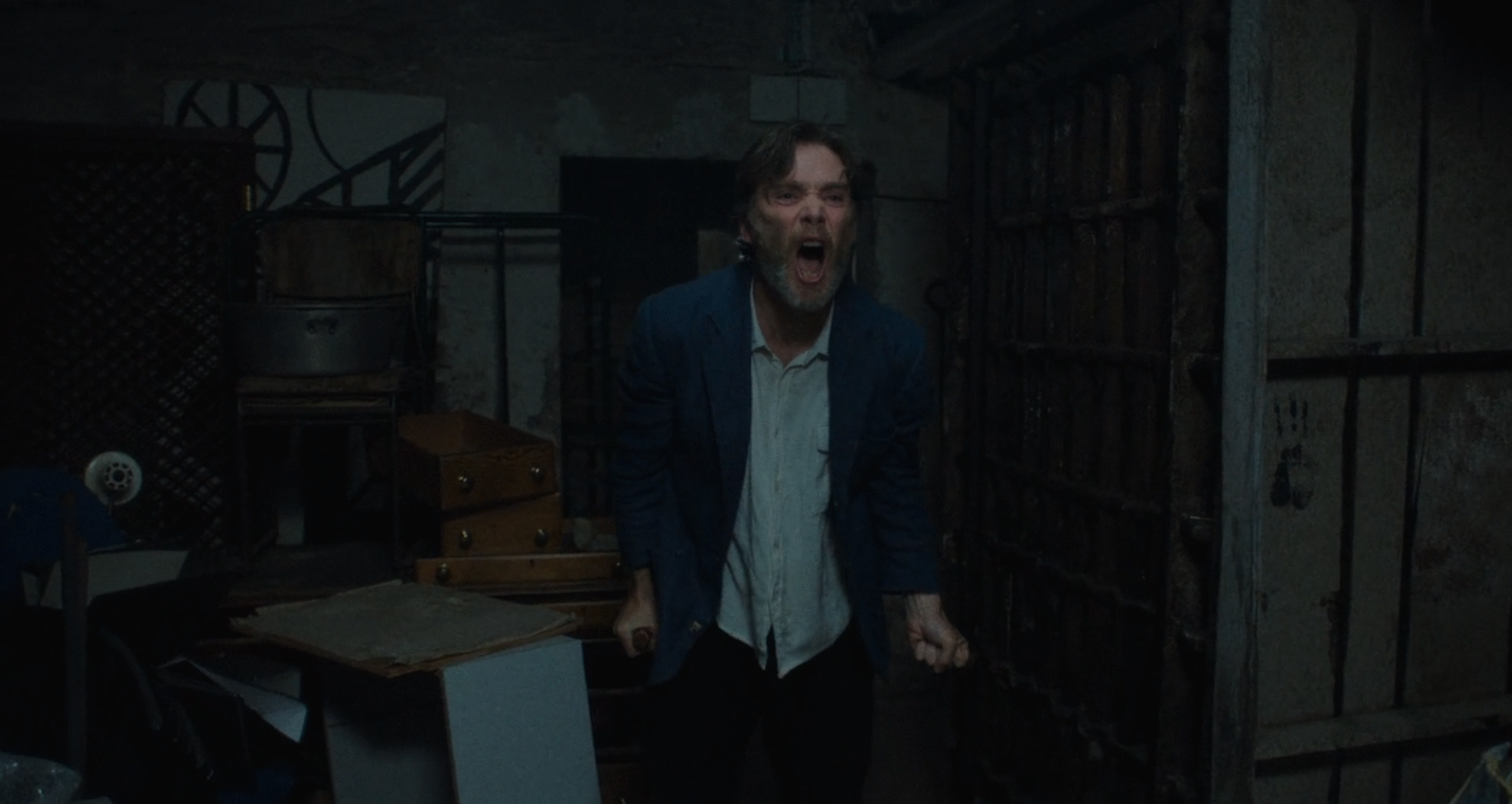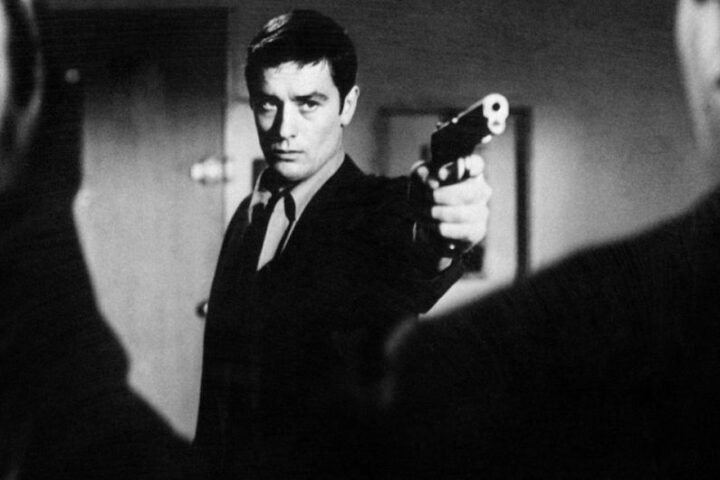All real living is meeting.
— Zadie Smith, in Feel Free
Talvez seja a luz primaveril. Ou o radiar próprio da tenra idade. De ressacar de uma namorada que o trocou por um retiro de silêncio. De passar tempo no Cosmos e trabalhar na Tigre de Papel. O rapaz dono do mesmo nome que o velhote que se veste de vermelho e tem a barba branca e originalmente, assim conta a história, os mesmos olhos castanhos. Talvez seja porque é morno na forma como cintila, feito de silêncios pontuados porque se quer arguto e identitário. Mas a cidade nem sempre o deixa. Os aviões nunca param de descolar e aterrar por cima de Lisboa. E as preocupações só têm como se amontoar ao som do que não pára de acontecer. Ou, na verdade, talvez seja porque apesar do facto de que tudo nos é dito, ou melhor cantado, logo de início, antes ainda de termos realmente caído no assento da sala de cinema algures na Almirante Reis com uma bicicleta demasiado pequena ao ombro, a primeira longa-metragem ficcional de João Rosas afirma-se com a resplandecência inusitada do cinema em português.

Indo buscar a vitalidade à relação intrínseca com a cidade e à sua qualidade caminhante, é apenas um pedaço de uma história maior. Nela vê-se o afinar da composição da obra incompleta de um escritor, que nos oferece finalmente o que procuramos. Um encantado conto, sóbrio no reconhecimento do que é o trautear da vida durante a juventude, que nos aparece acertadamente em media res, longe do discorrer pessoal da crónica e muito mais perto do empolgante contar de uma história feita de encontros, amores e desamores, e onde a esperança pelo futuro vem de atrelado.
Não deixa por isso de ser romântico. E quem conhece o cinema de João Rosas sabe que uma coisa não impossibilita a outra. Também porque a poesia ressoa das texturas e sons do quotidiano e não é embutida nele, como acontecia no cinema da Nouvelle Vague, todo ele feito só dessa teatralidade. Ainda assim, o brilho e o amor pelo desenvolvimento de um universo de personagens, o seu retrato, a sua tridimensionalidade, é o mesmo de Éric Rohmer, especialmente no que diz respeito às raparigas, várias e todas oriundas de lugares diferentes, todas inconscientemente sábias à procura de ver Lisboa como um lugar de pertença, que guiam Nicolau (Francisco Melo), acabado de fazer 24 anos, pelo seu crescer-de-idade.
A continuação da assim conhecida trilogia do crescimento (Entrecampos, Maria do Mar, talvez o mais rohmeriano de todos, e Catavento), A Vida Luminosa (2025) explora a sexualidade e o início da idade adulta como François Truffaut fez com Baisers Volés (Beijos Roubados, 1968), o terceiro de cinco episódios na vida de Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud), alter-ego cinemático de Truffaut. Embora não seja este o caso de Nicolau e João, muitos dos lugares que viram Nicolau crescer são os mesmos do realizador. “Não é directamente sobre mim. Eu cresci naquele bairro de Carnide, que é o bairro que aparece no filme, e onde ele está a morar com os pais. A matéria do filme, os seus lugares, são lugares da minha cidade, com os quais tenho uma relação e nesse sentido é sobre mim, mas claro que há coisas minhas em todas as personagens. O que me interessa é a cidade em comum que nasce do diálogo com quem está a trabalhar comigo. O processo de fazer o filme é construir essa cidade”, explica o realizador sentado numa mesa, dentro de um prédio que se encontra tão perto mas ao mesmo tempo tão longe do borbulhar do início da festa de Santo António ali na Bica, numa Lisboa suada e em flor.
Foi pensado profusamente, mas essa ânsia não acabou impressa. É sensorial, e o texto não é o seu único eros. Prefere a comédia, mas não deixa por isso de ser inspirador. E contempla o que acontece quando mudamos as coisas e as pessoas de sítio. A juventude enquanto acto de se ser migrante sem nunca se ter saído do lugar, à procura de estímulos na relação com o outro, pessoa ou cidade.
João Rosas chega “ao cinema pelas cidades” influenciado pela vista da “janela de infância de minha casa que dava para os arrabaldes da cidade, no Estádio da Luz. Era um bocadinho esta projecção de um mapa imaginário da cidade que eu não via, porque estava fora de campo.” Só realmente a começou a ver através de uma câmara, “a filmar coisas do meu dia-a-dia. Sem qualquer objetivo que não fosse este fascínio pelo que era a cidade.” Mas antes que o espectador esteja presente para a revelação do mundo de A Vida Luminosa através de um caminhar que no cinema não é físico, o filme receberá acenos comparativos a Richard Linklater e ao seu Boyhood (Boyhood: Momentos de uma Vida, 2014), quando na verdade a união entre os dois dá-se mais fortemente na forma como se distinguem. Boyhood é um projecto pensado enquanto arco narrativo com uma meta em vista. A Vida Luminosa tem um corpo e alma episódicas (ainda em possível desenvolvimento), mas foi pensado, e prova-se bem-sucedido, enquanto um filme isolado, que vive a sua realidade na íntegra, independentemente do espectador já se ter deparado ou não com a restante história de Nicolau, que tem vindo a ser contada desde os seus onze anos (Entrecampos veio até nós em 2012).
Boyhood é feito do efeito acumulativo das sequências individuais, cada uma num momento diferente no tempo e ao longo de 12 anos, que se entrelaçam num só filme, dando ao realizador Americano a sua qualidade de autor. Autor é também Rosas, na forma como trabalha sempre sobre a personagem na cidade através do tempo, ainda que o foco dele não seja o mesmo enaltecer godiardiano (“cada filme é um documentário dos seus actores”) de Linklater. A Vida Luminosa segue o seu personagem dentro da cidade, em contacto e fricção com ela, esta que permanece “ancorada pelo real”, como deseja o realizador. Assim o é. E isso é notável também nos documentários de Rosas (Birth of a City e A Morte de uma Cidade). Quando o próprio invade o seu filme como personagem, diz, sem cortar a quarta parede, que o filme são os “jovens na cidade”. Quase como se nos estivesse a dizer que o que veremos será um retrato de todos os que fazem da cidade, e com isso de Nicolau, o que é e tem vindo a ser.



Seguindo essa linha de pensamento, quando o ímpeto é o replicar da vida no ecrã, a recolha de momentos usados tem que se centrar na fluidez durante o habitar de não-lugares, lugares que são apenas de passagem, tanto no trabalho como no lazer. E não serão certamente estes momentos que acabarão preservados pela memória. Serão até, com certeza, esquecidos. Assim é o acontecer da vida, ocupada enquanto está a ser vivida. À deriva encontramos então Nicolau. É difícil pensar nele enquanto o mesmo rapaz que, na primeira vez que lhe colocamos os olhos em Entrecampos usa a expressão “Ah pois é bebé” em direcção à colega de turma e amiga Mariana (Francisca Alarcão). Nesse filme é ela que está à deriva, tendo-se mudado com o pai do baixo Alentejo para Lisboa, mais propriamente para um apartamento na praça de Entrecampos composta pela rotunda onde convergem três avenidas e a cidade se afunila. Na altura Mariana comprou um mapa da cidade, abriu-o plano sobre a parede do quarto e com uma caneta pensou-o, na esperança de se situar fisicamente neste novo lugar.
Treze anos depois, n’ A Vida Luminosa, um Nicolau destroçado de amor, que fala mais por acenos do que por palavras, anda pelo mapa de Mariana fora, dobras incluídas. Não sabe bem quem é, ou o que quer fazer. A mãe (Catarina Mourão) define-o como “uma alma penada” que precisa de encontrar algo que que o faça “sair da cama antes do meio-dia”. É baixista numa banda, mas ainda não estão preparados para concertos. Ainda tem o mesmo cartaz de David Bowie pendurado no quarto dele em casa dos pais, onde na mesinha de cabeceira se encontra uma cópia de Os Irmãos Karamazov. A namorada do amigo é mais velha e francesa. Arranja um trabalho a contar bicicletas numa Lisboa mergulhada pelo sol e é a partir daí que algo muda, no compasso entre seguir o “mapa do tesouro” da Cinemateca com Mariana, que volta a estar na sua vida depois de um ano fora em Roma, e visitar cemitérios.

No encontro e depois na inevitável despedida, serão os lugares, em vez dos momentos, a cartografar a memória. E neste quarto filme, já não bastam as fachadas que são o mantra do realizador – “Ele diz a certa altura, o (Nanni) Moretti, que belo que seria um filme feito apenas de fachadas.”. Fachadas estas descobertas numa sessão de Caro Diario (Querido Diário, 1994) que viu com treze anos com os pais e no meio do qual adormeceu (“um respeito para o espectador, deixá-los dormir”). Enquanto Nicolau cresce, também Rosas se move. Para ambos, Lisboa é a cidade-personagem que vai sendo desenhada, enquanto se abordam os dançares entre a vida e a morte, a arquitectura e o urbanismo, e no caso de A Vida Luminosa os cemitérios, os jardins (onde é mais fácil pertencer, preferencialmente em cima das árvores, onde a vulnerabilidade diminui) e os animais, todos a ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo.
A pé, de bicicleta ou de metro, tudo está ao alcance de Nicolau. São várias as suas entradas e saídas de lugares ao longo do filme, onde se dá a transferência do seu carácter anónimo. Nicolau vai conquistando-os em prol da sua história, numa Lisboa que não foi museificada e não é usada para ser um outro lugar qualquer a não ser o que é. Cai-se numa experiência psicogeográfica, não só no filme, mas enquanto reflexo da própria construção do fazer do cinema. Como me diz o realizador, “os filmes também estão construídos segundo esta apropriação de espaço, de como o espaço se torna num lugar. Isso acontece através desses afetos, das memórias. Há um trabalho grande que nasce nestas caminhadas, neste meu fazer destes percursos pela cidade, uma maneira de recolher elementos, que depois se transformam em mapas. Por outro lado, são também uma espécie de atlas enquanto conjunto de mapas porque é uma tetralogia. Para mim já tem uma lógica e eu não posso ir contra ela para manter a continuidade.”
A Vida Luminosa afirma-se como caminho para a entrada na vida, carregado da inquietação de como ocupar o espaço onde ela acontece. Na cidade há distância porque também há confronto, e onde há confronto há uma porta aberta para a evolução.
O cinema neorrealista italiano, muito vivido durante o tempo passado em Erasmus em Itália, também ajudou Rosas a definir as coisas porque “são filmes de pessoas a andar na cidade, não é? Estas cidades em construção e estas cidades de arrabaldes que remetiam para a minha imagem de infância, que era um sítio onde andávamos em bando, a explorar, a brincar. E depois as cidades, pela sua própria natureza, são muito cinematográficas. Não só o cinema nasceu no coração das cidades como é uma arte urbana que nasce também enquanto linguagem dessa modernidade. O cinema é uma maneira de me relacionar com a cidade tal como o cinema pode ser uma maneira de habitar a cidade que, para mim, é um gesto de curiosidade pelo outro, por quem é diferente, por quem não sou eu, por quem vê as coisas de outra maneira. (…) Ao trabalhar a memória afectiva de certos lugares estou a partir à descoberta daquilo que me intriga. Seja o cartografar sentimental dos lugares, seja sobretudo pessoas.”, numa espécie de ensaio antropológico onde a planificação geográfica da cidade, que rejeita a dominação, ajuda à planificação identitária das pessoas e se dá à circulação que faz o cruzamento e provoca o encontro (entre elas primeiro e depois com o Eu). Ao trabalho do cinema de Lisboa de João César Monteiro e Paulo Rocha, Manuel Mozos, Vítor Gonçalves, e Telmo Churro, é acrescentado João Rosas. “A cidade precisamente enquanto lugar de encontro é bastante importante para mim neste momento, até politicamente. A cidade enquanto cruzamento e partilha.”, continua.

A Vida Luminosa é um espelho de tudo isto. A liberdade, o enriquecimento da proximidade ao outro com o lugar de fala e a ondulação entre a aproximação e a contemplação. Nicolau vai-se deparando com um conjunto de pessoas que vivem nos entretantos da vida, em estado de transição, citando Rosas “todos um bocadinho entre campos”, ligados a Lisboa através ou dos estudos ou de trabalhos medíocres que arrecadam para sobreviver enquanto ali estão, ou muitas vezes por causa de uma relação amorosa que não queriam ver acabar. Lisboa torna-se habitável no momento, enquanto pensam se devem ou não caminhar para longe dela. Noutras palavras, não é lugar de pertença, mas ainda assim estes personagens mantêm-se inscritos no espaço tal é a expectativa de vida.
A partir de um guião afinado colectivamente, depois de um processo de casting que coloca as pessoas a falar de si mesmas, – trazendo pedaços da sua realidade para a personagem e para o ecrã -, o filme cose-se de retalhos, do que as personagens vão dizendo de si próprias com muita percepção (“Esvaziei-me por causa dele”). Nisto, o que realmente ajuda Rosas é o facto de que o filme não se leva demasiado a sério. Foi pensado profusamente, mas essa ânsia não acabou impressa. É sensorial e o texto não é o seu único eros. Prefere a comédia, mas não deixa por isso de ser inspirador. E contempla o que acontece quando mudamos as coisas e as pessoas de sítio. A juventude enquanto acto de se ser migrante sem nunca se ter saído do lugar, à procura de estímulos na relação com o outro, pessoa ou país.

Talvez seja por isso que é tão intrigante quando uma personagem no filme, filha de francês e italiana, afirma não querer viver num sítio a idealizar um outro que não existe, como era o caso da sua mãe. Confesso ao realizador que vivo sempre entre dois lugares, ao que ele me diz que o mesmo também lhe acontece. “É a dúvida. Acho que é bom viver nessa tensão, no constante fora de campo. A invisibilidade é o que desperta a curiosidade e a ficção.”, diz-me. Da mesma forma que Francisco não é Nicolau, nem Nicolau é João, aproximam-se um do outro com a cumplicidade de quem não tem respostas às muitas perguntas. Existem certezas mas estão relacionadas com o facto do cinema se querer esbarrar nos outros e criar uma tribo. “Os filmes são uma desculpa para eu ficar amigo das pessoas.”, conclui com um sorriso.
É mais do que claro que sim, tendo em conta a presença de tantas caras conhecidas que do filme fazem parte – de Nuno Lisboa a Joana Cunha Ferreira, passando por Vasco Santos e Filipe Raposo. E depois informa que o próximo filme que fará será sem o Francisco, o que o deixa apreensivo. “Estou com um bocado de medo porque não sei se consigo filmar sem ele.” Ao longo de todos estes anos, o Nicolau de Francisco desenvolve-se em frente à câmara, exposto ao olhar dos outros. Exactamente como João, através da sua obra. Enquanto isso, Lisboa circula ininterruptamente, sempre em movimento, sempre à beira da mudança, iluminada pela qualidade arquivista do cinema de ficção em marcar a passagem do tempo sem que o espectador se aperceba. A Vida Luminosa afirma-se como caminho para a entrada na vida, carregado da inquietação de como ocupar o espaço onde ela acontece. Na cidade há distância porque também há confronto, e onde há confronto há uma porta aberta para a evolução. Como me disse Rosas ainda antes do início da nossa conversa sobre o filme, falava eu dos gatos da colónia do meu bairro, “Viste o filme, não viste?”, ao que lhe digo que Lisboa também é uma cidade de gatos e não só de cães. Acenando, declara que estão lá, “estão é escondidos.” O crescimento faz-se a pé.
★★★★☆