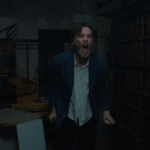A Mulher Que Morreu de Pé (2024), o ensaio cinematográfico que Rosa Coutinho Cabral assina em busca de uma Natália Correia (1923-1993), existe entre a viagem-leitura e o percurso emocional, e deixa-nos na suspensão de uma figura que nunca chega, realmente, a surgir, e sem que isso seja um problema de maior. O filme parte de uma vontade particular, esculpido a partir de uma peça de teatro, Colheres de prata, da autoria da realizadora, estreada em 2023 no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, da qual vemos alguns excertos e, em particular, as composições e morfologias de uma identidade múltipla, que faz Natália Correia, a sua poesia, e a sua vida, um eco da heterotopia de Fernando Pessoa. Ela, a quem Gastão Cruz chamaria “um Álvaro de Campos em segunda mão” (Jornal de Letras e Artes, Novembro 1961).

Faz sentido que assim seja e, mesmo sendo o que menos importa e se sabe defender num filme cheio de interrogações, é o que mais se aproxima de uma figura que, passados cem anos sobre o nascimento (cento e dois, entretanto) interpela a própria ideia de representação. Luiz Fagundes Duarte, no texto que reescreveu para celebrar o centenário do nascimento da “açoriana, portuguesa e europeia” Natália Correia (O Essencial sobre Natália Correia, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2025), dizia existirem três Natálias: “a figura privada, desconhecida, equívoca”; “a persona pública, conhecida, de referência”; “a mulher que trazia dentro de si um vulcão que ninguém jamais apagara”.
Em A Mulher Que Morreu de Pé , essa múltipla Natália surge a partir de uma pergunta colocada recorrentemente aos atores: “Que Natália é a tua?”. É um dispositivo a espaços curioso e tanto mais interessante quanto as respostas, escritas ou intuídas, se afastam dos clichés que uma figura como Natália Correia atrai. Invariavelmente a pergunta é feita no Botequim, aberto pela poeta – e nunca poetisa – em 1968 no Largo da Graça, em Lisboa, lugar de liberdade, de conspiração e de boémia, encravado numa vila operária de uma cidade vigiada, frequentado pelos intelectuais e os esbirros da polícia política do regime fascista do Estado Novo, dirigido por Natália Correia entre o mito e o refúgio.

Nem sempre resulta e as várias Natálias são bastante iguais, mais pose ou menos voz, mais boquilha ou menos versos ditos de cor. Ninguém se lembrará – ou o pudor mandou que se retirasse – uma descrição que certamente a divertiria, a “tasqueira da Graça”, vinda de quem a enervava e a considerava, por força de terem estado em lados opostos de um romance alheio, um dos seus “ódios de estimação”, “a bruxa da Areosa”, Agustina Bessa-Luís (Isabel Rio Novo, O Poço e a Estrada, Contraponto, 2019).
Contudo, o grande achado deste casting encenado, com sombras pirandellianas e ventos burlescos, é a presença de Soraia Chaves, continuamente afirmativa, e sólida atriz que continua à espera de papéis, no cinema, à altura da sua entrega, que transporta para o filme a personagem que desenvolveu na série 3 Mulheres (2018, criação de Fátima Ribeiro e Luís Alvarães, realização de Fernando Vendrell, integralmente disponível na RTP Play). É aqui que Natália se torna na duplicidade que intriga e que espanta, intenso resumo que a experiência da série permite que Soraia Chaves não precise de se impor. E, no modo como a câmara não a sabe enfrentar, reside toda a fragilidade de uma figura como Natália Correia, personagem de si mesma.
É na escuta e na observação, e na consciência de que seguimos uma pesquisa que não findará, cheia de interrogações como está, que nos deixamos levar num filme que se assume como ensaio, e nunca como ponto de chegada.
Num texto escrito em Setembro 1993, integrado em Retrato de Natália Correia (Ângela Almeida, Círculo de Leitores, 1994) e republicado em Intervenções 8 (INCM, 1994), Mário Soares haveria de a dar como exemplo “pedagógico”: “foi uma outra forma de dizer não”. No texto observava o impacto da sua influência “muito maior – e mais profunda – na sociedade do seu tempo do que uma visão superficial nos faria supor”. O então Presidente da República refletia sobre o contraste que melhor a descreveria: “A maneira como foi sentida a sua morte – e a tão grande variedade de pessoas em absoluto diferentes, de todos os quadrantes políticos e religiosos, que quiseram, publicamente, manifestar o seu pesar – constituiu um sinal iniludível.” Mas depois, o que se escondia: “A Natália iconoclasta, irreverente, provocatória, mesmo exibicionista era, julgo, uma máscara e uma defesa da verdadeira Natália – mulher de uma enorme sensibilidade, idealista, solitária, solidária, empenhada numa profunda transformação social e cultural – naquela sociedade do futuro onde os poetas, os verdadeiros, teriam voz…”
No filme de Rosa Coutinho Cabral, a procura por uma Natália Correia sem máscaras, nos lugares que habitou antes de todas as palavras, prolonga o gesto que a realizadora desenvolveu num anterior filme, A Casa da Rosa (2002), onde aprendeu a despedir-se da sua casa, adiando a partida, fixando a luz, as marcas de uma vivência e os ecos de uma memória. Na casa maior que é uma ilha, de onde também saiu, a realizadora observa os lugares, os papéis, as referências e as origens de uma causa que vai ter, mais tarde, consequências numa vida multiplicada na escrita e na intervenção política. De certo modo, Rosa Coutinho Cabral trabalha o lastro do pensamento de Natália Correia do mesmo modo que a poeta o fez em Santo Antero, Vida e Obra de Antero de Quental (Dórdio Guimarães, 1979, disponível, em duas partes, na RTP Arquivos), no qual foi argumentista. A morte que Antero de Quental prepara em Ponta Delgada é lugar de fuga onde Rosa Coutinho Cabral quer encontrar Natália Correia e, por isso, numa obcecante pesquisa, que é sobre si, sobre o leitor que poderemos ser, e muito menos sobre as projeções de cada Natália que cada ator vem alimentar, que o filme se vai construindo, contra si mesmo.

Natália Correia tem, como terão várias mulheres da nossa historiografia, o infortúnio de interessar menos do que ficções sobre mitos, metáforas ou abstrações. É pena e este filme defende, e ainda bem, por nem tentar caracterizar e determinar a figura: aponta sentidos, propõem caminhos, inventa razões, dá a ouvir e, como sempre nestes casos, mostra, ouve e explica demais. Não é um problema se nos deixarmos ir e acreditarmos na generosidade da intenção. É na escuta e na observação, e na consciência de que seguimos uma pesquisa que não findará, cheia de interrogações como está, que nos deixamos levar num filme que se assume como ensaio, e nunca como ponto de chegada. Tal como Jean Cocteau pretenderia com Le Sang d’un poète (O Sangue de um Poeta, 1932), e não por acaso aqui lembrado.
Na biografia O Dever de Deslumbrar (Contraponto, 2023), Filipa Martins conta que “a primeira vez que Dórdio [Guimarães] viu Natália tinha 14 anos e estávamos em 1952. Foi numa sessão no Ateneu Comercial [em Lisboa], durante a exibição do filme O Sangue de um Poeta, de Jean Cocteau (1932)”. Nesse filme de obsessão e espanto, de renúncia ao real e absoluta entrega à mais fiel das paixões, ter-se-ão desenhado os contornos de “um fascínio imperecível”, que certamente Cocteau aprovaria. Afinal, “O Sangue de um Poeta não passa de uma descida sobre mim próprio, uma maneira de empregar o mecanismo do sonho sem dormir, uma desajeitada vela com frequência apagada por qualquer sopro que passeia na noite do corpo humano”, escreveu Cocteau (A dificuldade de ser, 1947; Sistema Solar, 2003, p.67), como poderia escrever, ou descrever-se, Natália Correia: “Eles, que só querem ter prazer com as paragens da escala, o que sabem a respeito do rio?” (p.71).
É dessa relação de constante proximidade que se faz uma personagem provavelmente demasiado grande para o cinema, demasiado perto, como o coração da boca, de se incendiar.
Rosa Coutinho Cabral parece sabê-lo, e mais, usa-o a seu favor. Até porque de Natália Correia são mais as imagens feitas que as filmadas. Pensar que a sua relação com a imagem começou em Greta Garbo, a personificação da beleza sem mais, esfíngica e inacessível”, recorda a biógrafa (p.114), de “’um rosto sem época’ recusando ‘aprisionar os gestos numa pose imposta pelos traficantes da carne!’”, levanta hipóteses de uma intensa revelação, no cinema, de um potencial de exposição das evidências e paradoxos das relações humanas.
Se a sua relação com o cinema é apenas aproximativa, na edição e sobretudo pela via da televisão, é-o quase sempre numa relação política, ou com a política, a começar pela de Estado enquanto compromisso ético. Num texto sobre Solo de Violino (1990), de Monique Rutler, escrito para o JL – Jornal de Letras Artes e Ideias em 1992 (reproduzido no catálogo editado pela Cinemateca Portuguesa), Natália Correia observava na relação de Maria Adelaide, herdeira do Diário de Notícias, com o motorista, internada compulsivamente no Hospital Miguel Bombarda nos alvores do regime fascista, “o amor que abate as diferenças de classe e de idade.” Escrevia: “É o flanco feminista do filme que, com uma subtil perícia, é enlaçado na vertente romântica. A perpétua luta dos abrasamentos amorosos que queimam barreiras separadoras do que estava unido, unidade configurada no par primordial, com o status da vida falsificada instituído pelos ladrões de almas.”Na história interpretada por Fernanda Lapa e André Gago, percebia-se “a pureza da razão do amor contra a impura razão do Estado” e no filme, “um manifesto romântico dos direitos da paixão amorosa situado no eixo do desmascaramento de uma androcracia a cuja superfície a realizadora do filme faz subir, tornando-o visível, o gene perverso da sua origem: um sistema de trocas em que a mulher tem um valor mercantil.”
Por altura da estreia do filme, Natália Correia prepararia a série Mátria, para a RTP, com realização do seu marido, Dórdio Guimarães, que a tornaria “de repente”, “do domínio do grande público”. Na referida biografia, conta-se que “as pessoas mais humildes gostavam de a ver, manietadas pela figura”, na televisão a adaptar os clássicos, a reencenar peças, a recorrer a dramatizações através de cartas e documentos históricos. O sucesso do programa levaria o realizador Herlander Peyroteo a querer negociar os direitos para adaptação cinematográfica do romance Madona (1968). Não chegou a acontecer. É dessa relação de constante proximidade que se faz uma personagem provavelmente demasiado grande para o cinema, demasiado perto, como o coração da boca, de se incendiar.

Na leitura de O dever de deslumbrar, é possível traçar uma linha entre as diferentes aproximações, sempre tangenciais ao cinema, entre elas o que defendia ser a relação deste com a literatura. Numa crítica feroz à adaptação que Manoel de Oliveira fizera de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco (1978), escreveria num artigo no Jornal Novo: “o menos que se pode dizer é que transformar Camilo num objeto de riso é crime de lesa-cultura”. Esta visão, feita sobre a primeira versão, para televisão era particularmente violenta: “Camilo é de todos. Mas a TV que todos pagam, rouba-o, apalermando-lhe o génio, aviltando-lhe a força da paixão numa fantochada filmada, cujos interpretes papagueiam em descontrolado ralenti as intensidades discursivas do genial estilista. Se a TV queria uma vacina para imunizar o povo português contra a tentação de ler os clássicos, conseguiu-o em cheio. Vacina caríssima, pela qual a inerme vítima – o nosso povo – pagou a módica quantia de vinte e quatro mil contos.” Filipa Martins sublinha que Natália Correia “reagia contra a lentidão da película, rodada em planos fixos, e a teatralidade dos atores, que se expressavam monocordicamente”, o que levaria a uma reação, no mesmo tom, de João Bénard da Costa, no Diário de Notícias: “Uma escritora menor (Natália Correia) chama a um cineasta maior (Manoel de Oliveira) palerma e fantoche. E é fartar vilanagem perante o silêncio ou a apatia de quase todos.”
Natália Correia, escreve Luiz Fagundes Duarte, “gostava de palavras e de jogos de palavras, de associações e de simetrias, de aliterações e de sinonímias, de arcaísmos e de neologismos” (p.40). Se era assim na literatura, porque não haveria de ser assim na vida? E isso Rosa Coutinho Cabral esforça-se por demonstrar, no embate do mar nas rochas; nos choques e sobreposições dos atores; na acumulação de olhares; na ficcionalização de leituras e na fixação de mitos. Mas é nesse “herético-erótico” que a caracterizaria, que podermos inscrever, novamente tangenciando o cinema e se quisermos fazer jus à liberdade que a caracterizava, o braço dado a Ilona Staller, atriz de filmes tidos por pornográficos, durante a apresentação, no Parlamento, do programa de governo de Cavaco Silva: “Num país onde há um Vaticano tem de haver uma Cicciolina”, disse Natália Correia, enquanto a deputada do Partido Radical italiano fazia as delícias dos jornalistas, vulgo, homens, ao mostrar os seios na escadaria do parlamento (p.561).
O desconcerto dos dias, que Rosa Coutinho Cabral procura num filme onde Natália Correia aparece e desaparece, como se nunca tivesse existido, ou tivéssemos chegado todos demasiado tarde para acreditar que existiu, é a resposta ao final de uma frase do ensaio de Luiz Fagundes Duarte: “no seu autoretrato estão as cores com que ela ia ao nosso encontro” (p.41).
A partir do índice onomástico, descobre-se uma proximidade nunca concretizada, e que serve aqui para lançar pistas para uma reflexão sobre como pode a imagem de uma pessoa escapar ao próprio cinema. Houve um jantar em Veneza, com a “nata da nata da literatura europeia, acompanhada por relevantes figuras do cinema”, onde esteve o realizador italiano Michelangelo Antonioni (p.207); houve a tentativa de publicar os poemas do realizador espanhol Luis Buñuel, “entregues em mão ao escritor José Francisco Aranda, que lhe propôs que os editasse em português, numa tradução de Mário Cesariny” [haveriam de ser editados em 1995 pela Assírio & Alvim] (p.376); houveram, ainda passos efetivos, na publicação de uma biografia de Marylin Monroe, assinada por Norman Mailer, ferida de acusações de plágio e escrita em sessenta dias “porque precisava de dinheiro”, com o autor a assumir “não ter investigado por conta própria, não ter forma de comprovar as afirmações constantes no livro, não ter entrevistado ninguém da esfera privada da atriz e admint[indo] ter-se baseado, quase na íntegra, num trabalho anterior escrito em 1969 por Fred Lawrence Guiles” (p.373).

Sobre o plágio de Mailer, explicaria Natália Correia parecer-lhe “secundário”: “não creio que nesta altura da sua carreira, o Norman Mailer se expusesse a tal ridículo. Trata-se talvez de especulação. O pior é o montante dos direitos que eles pedem, o que talvez torne impublicável o livro em Portugal”. Ficaria por publicar, tal como a que, na mesma altura fora encomendada a Manuel da Fonseca uma sobre Amália Rodrigues, para espanto e escárnio de quem há muito o ambicionava, com a diferença de que esta nunca foi escrita, ficando apenas o registo das conversas entre o escritor neorealista e a fadista, publicadas, essas sim, em 2020 numa edição conjunta da Edições Nelson de Matos e Porto Editora.
Na abertura da peça O Encoberto (Companhia Repertório -Cooperativa Portuguesa de Teatro, 1977, encenação Carlos Avillez), diz Floriana, conseguindo finalmente impor a sua voz, “Calma, ilustre assistência! O espetáculo vai prosseguir dentro de instantes. É só o tempo de o Senhor Bonami, primeiro ator desta famosa companhia de comediantes, mudar de trajo.” O que Rosa Coutinho Cabral faz em A Mulher Que Morreu de Pé, e aquilo que se pode, para início de qualquer conversa sobre as representações de Natália Correia no, e sobre o cinema, é que a personagem que temos à nossa frente, já nos escapou. Compreender-se-á, então, melhor, porque é que a realizadora prefere nunca fechar o filme, apenas a página, como deve, aliás, acontecer com qualquer leitor. E qualquer espectador, como seria Natália Correia, “instantâneo das coisas/ apanhadas em delito de paixão/ a raiz quadrada da flor/ que espalmais em apertos de mão.” (1972, A Defesa do Poeta in A Mosca iluminada).