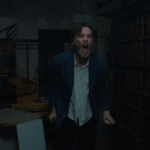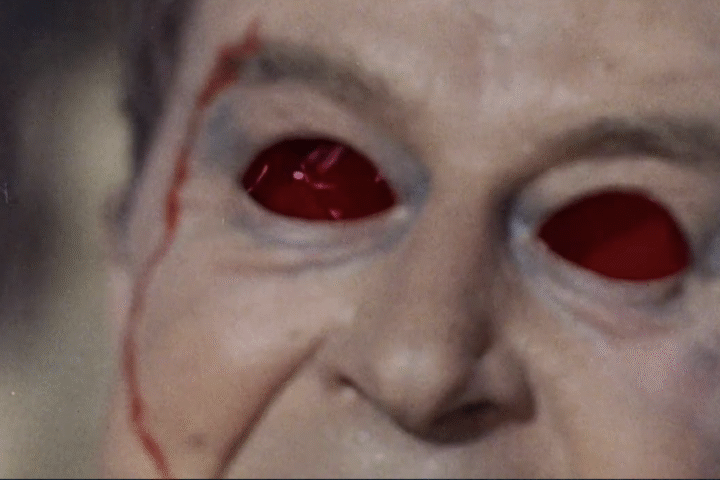1. Com a invasão e ocupação da Manchúria em 1931 e a retirada do Japão em 1933 da Sociedade das Nações, contra o espírito de abertura à modernidade e ao Ocidente das épocas Meiji e Taisho, impõe-se um progressivo novo isolamento do Japão do mundo e uma nova onda de “tradicionalismo” e “nacionalismo”: o retorno à “tradição” – ao nihonjinron (“japoneseness”) e ao kokutai (essência nacional), bases do kokusaku (política nacional) – continha também uma reacção à ocidentalização do período Taisho (1912-1926), assim como uma crítica da “americanização” (do imperativo do supido, viver depressa) e do efeito de dissolução moral contido nos ditos 3 ss perigosos (em inglês, “sports, screen, sex”) e explanado na expressão ero (eros) guro (grotesco) nansensu (sem sentido) (credo estético de que é um bom exemplo a obra de Edogawa Ranpo [versão fónica do nome de Edgar Allan Poe, pronunciado à japonesa], uma obra a partir dos anos 60, várias vezes adaptada ao cinema).
Se até 1937 não havia propriamente, no Japão, um género de “filme de guerra”, só após Pearl Harbour (Dezembro de 1941) se verifica uma orientação mais belicista e ultra-nacionalista na produção local. No entanto, com os bombardeamentos atómicos de 6 (Hiroxima) e 9 (Nagasaki) de Agosto de 1945, a rendição do Japão e a abdicação da sua origem divina (assim como a do Japão) pelo Imperador, via rádio, a 15 de Agosto e 1 de Janeiro de 1946, a situação muda profundamente.
Assim, com a ocupação do país pelas forças armadas americanas, cria-se o CIE (Civil Information and Educational Section) do SCAP (Supreme Commander for the Allied Forces, sob comando do general Mac Arthur) que a 15 de Novembro de 1945 publica uma lista de temas a excluir do cinema que iam da defesa dos “valores feudais” (como o militarismo, o nacionalismo, a lealdade aos superiores ou o princípio da justa vingança) ao suicídio, a degradação da mulher e a discriminação religiosa ou social – ao mesmo tempo que eram também proibidas quaisquer referências aos bombardeamentos atómicos de Agosto e à política da ocupação americana (isto até 1952): com estas restrições, o jidai-jeki (filme de época [histórico]) era particularmente visado (Tora no o o fumu otoko-tachi [Os Homens que Caminham sobre a Cauda do Tigre, 1945] de Akira Kurosawa foi duplamente proibido, primeiro pelo poder militar japonês, depois pelos ocupantes), assim como tudo o que pudesse ser associado ao kabuki e relacionado com os “valores feudais”. No entanto, como observa Isolde Standish (A New History of Japan Cinema: a Century of Narrative Film, Routledge, 2006), há uma certa continuidade (estética, temática e de valores) entre o cinema do pós-guerra e o anterior, devido tanto à permanência de autores que vêm de trás (Ozu, Mizoguchi, Kinugasa, Kinoshita, Uchida,etc) como ao aparecimento de novos realizadores que começam a trabalhar no final da guerra (Akira Kurosawa) ou logo a seguir (Ichikawa, Shinoda).
De qualquer modo, o trauma do pós-guerra, com a sua catástrofe simbólica (inúmeros suicídios sucedem-se às comunicações do Imperador), marcou o cinema com um “complexo de culpa” (com a política de guerra e genocídio levada a cabo no continente asiático) por vezes acompanhado por uma atitude de “vitimização” que levava à desculpabilização e aceitação da ordem das coisas, consideradas naturais numa “geração condenada” (Standish [182/3]).
O cinema fantástico japonês do pós-guerra seguiu assim duas grandes vias, uma mais “tradicional”, a do chamado “Gótico Endo”, com os seus espíritos vingadores (yūrei), sobretudo femininos (caso de Ugetsu Monogatari [Contos da Lua Vaga, 1953] de Mizoguchi) – um cinema com marcas, mais ou menos acentuadas, da hieratização do teatro Nô e da estética da crueldade do Kabuki (em particular da modalidade zankoku no hi [tortura estilizada], um teatro de “efeitos” = ”atracções” [keren] de que é exemplo Tokaido Yotsua Kaidan [The Ghost of Yotsua, 1959] de Nobuo Nakagawa) – e outra, mais “moderna”, o filme de “monstros” (kaiju-eiga), uma espécie de filme catástrofe pós-nuclear de que Godzilla de Ishiro Honda, em 1954, é o primeiro e talvez ainda mais significativo exemplo.
Para Colette Balmain (Introduction to Japanese Horror Film, Edinburgh University Press,2008), tanto Lady Wakasa de Ugetsu (um filme, convém não o esquecer, atravessado pela guerra) como Godzilla constituem transitional figures deste período (trauma), “caught between tradition and modernity, mourning the loss of an authentic identity as embedded in the community” [49]: por um lado, apresentar-se-iam como figuras das “feridas” (simbólicas e físicas) na identidade do “mesmo” (deste ponto de vista, Lady Wakasa, o demónio, e Miyaji, a esposa fiel, com a sua “victim counsciousness” [higaisha ishiki], surgem como figuras também de um Japão “agredido” [52]), embora, por outro lado, na sua “estranheza”, apareçam também como figuras do “outro”, “external aliens”, vindas de “outro mundo” (era, valores, natureza) [49].
Desta perspectiva, Ugetsu Monogatari de Kenji Mizoguchi é particularmente interessante.
No plano temático, o filme apresenta-se como uma “alegoria da guerra” – nos termos do próprio autor, uma “tragédia de guerra” – em que, como se vê logo nas cenas de saque da aldeia, se procura sublinhar o seu carácter colectivo e universal. Nesse cenário, Mizoguchi desenvolve a oposição entre o “oportunismo” (arrivismo) dos personagens masculinos – com a sua dinâmica centrífuga, vontade de partir (Genjurô, Tobei) – e a “endurence” (vontade de ficar) das mulheres (Miyagi [Kinuko Tanaka], o “bom fantasma” que aparece no fim, surge como o emblema, ainda segundo o autor, da “nostalgia do lugar”).
Mas assim como no filme há diferentes registos do “fantástico”, sobrepõem-se também nele diferentes figuras, funções e planos do fantasma.

Como se pode ver na cena da dança (nupcial) de Lady Wakasa (Machiko Kyō), em que, pela sobreposição de canções – a “lírica”, à base de flauta, de Wakasa e a mais cerimonial (num registo grave próximo do nô) do fantasma do Pai -, se intersectam diferentes níveis de “diabolia” e de “profundidade” do fantasma. Ao “desfalecimento” de Wakasa, à medida que o fantasma do pai (pela canção: poder de enunciação da voz) se lhe sobrepõe, corresponde um ensombrecimento da imagem, e, por fim, o deslocamento da câmera que deixa de se centrar nela para se perder no fundo (escuro) da sala, fixando-se na “máscara” (capacete, armadura) brilhante e ressonante, mas vazia, do pai: o “ícone” (fetiche) desse registo do “fantástico”, não “superficial” ou “onírico” (de acordo com a ideia budista da “ilusão dos sentidos”: “Isto é o paraíso, nunca pensei que tais prazeres fossem possíveis”, exclama Genjuro [Masayuki Mori]) – mas “arcaico” (primitivo e profundo) que regressa de um “recalcado” não sublimado ou simbolizado (talvez o do carácter interdito, inumano, da paixão entre Lady Wasaka e o pai [o Japão antigo]).
Assim, situado entre a “transgressão” (o retorno do recalcado) e a re-definição dos limites (normas), o Fantástico (= Horror),nestes filmes, sempre uma espécie de acting out do(s) fantasma(s), utiliza as figurações alteradas do “outro” (demónio ou monstro) para reconfigurar a sua “identidade” no novo quadro (de valores, figurações) da sociedade japonesa do pós-guerra.
2. Dois filmes, Hiroshima (1953), de Hideo Sekigawa e Kono ko wo nokoshite (As Crianças de Nagasaki, 1983) de Keisuke Kinoshita, permitem-nos talvez compreender melhor como o “trauma” das duas explosões nucleares de Agosto de 1945 marcou e afectou a sua figuração no cinema japonês (quase) contemporâneo, sempre condicionado pelas restrições e censuras impostas pelas autoridades ocupantes americanas à abordagem dessa temática.
Hiroshima de Hideo Sekigawa começa com uma voz off que relata, em japonês, do ponto de vista do seu piloto (Von Kirk), a preparação do voo do avião que vai lançar a bomba sobre a cidade japonesa; percebe-se depois que se trata de uma gravação posta a correr numa aula de inglês pelo professor (Eiji Okada, o amante japonês de Hiroshima, mon amour [Hiroxima, Meu Amor, 1959] de Alain Resnais / Marguerite Duras), até que uma das alunas, Michiko (sobrevivente com leucemia) o manda parar: a licção é clara, a necessidade de uma palavra (discurso) autóctene que páre de vez com o discurso dos outros sobre os acontecimentos (uma posição semelhante à da avó de Crianças de Nagasaki).
Contra a captura do real (factos) pelos discursos dos vencedores (mas também do novo poder japonês), que distorce os factos e os silencia, vários flashbacks, na voz de alunas, impõem imagens tanto dos vitimados (as Maiden of Hiroshima) como da educação belicista durante a guerra ou, depois, de soldados americanos visitando (como turistas) as ruínas acompanhados por mulheres japonesas; segue-se a dramatização, à volta de Michiko criança, de cenas da vida antes da bomba – sequência abruptamente interrompida por imagens da explosão (flashes de luz e o cogumelo atómico). Novas cenas, reconstruídas, do aftermath com pessoas, em particular crianças, entre os escombros.
Passa-se assim do “documento” ao “drama”: a teatralização (encenação) da História permite o coral expressionista da memória das imagens e dos sentidos (impressões) que se lhes encontram ligados. Mais do que “representação” (tentativa de mimese ou melodrama [o fio melodramático contudo está lá na criação de alguns personagens mais individualizados – uma professora, a mãe de Michiko – ou através do percurso dos irmãos Endo, Yukio e Yoko, pelas ruínas]) temos aqui, antes de mais, uma versão operática da “cena trauma”, bem patente nas cenas corais com crianças e adultos, para a qual muito contribui a música de Akira Ifukube, depois responsável pela banda-sonora de Godzilla. Algo entre o imaginário plástico de Jigoku (Inferno, 1960) de Nobuo Nakagawa e as recriações pós-históricas apocalípticas de Derek Jarman (The Last of England [1987] ou Jubilee [1978]). Como no cinema épico soviético dos anos 20, mais do que “indivíduos” (ou melodrama) o sujeito desta teatralização são as massas que enchem o plano e impõem a visão (imagem) de um sujeito colectivo, entendido como carne do mundo (Merleau-Ponty), em chaga (ferida) e não fechada nos seus contornos mas aberta (porosa) a todas as contaminações e mutações (novas formas) a vir, sejam elas “monstruosas”, como Godzilla, ou “políticas”. O contraste grotesco entre a miséria geral e o tom exaltado dos discursos bélicos oficiais cria uma situação de “choque” próxima do Teatro épico de Brecht (talvez não seja por acaso que se vê, mais tarde, um cartaz de Monsieur Verdoux [O Barba-Aul, 1947] de Chaplin colado numa parede). Trata-se aqui, como será dito por Nagai ao filho, no filme de Kinoshita, de tudo ver para o não deixar cair no esquecimento.
Durante todo o filme, e em particular na parte final – os últimos 20 minutos, com o regresso à actualidade -, as crianças têm um papel privilegiado no filme. Marca talvez do neo-realismo italiano (episódio de Nápoles de Paisa [Libertação, 1946] de Roberto Rossellini ou Sciuscià [1946] de Vittorio De Sica) mas, mais do que isso, aqui, um motivo trabalhado num sentido mais excêntrico, expressionista (na linha de Dodeskaden [O Caminho da Vida, 1970] de Akira Kurosawa). Com efeito, às tentativas dos adultos para psicologizar, melodramatizar a sua situação (miséria, abandono, orfandade), elas opõem o teatro (rudimentar e pobre) da crueldade do seu presente: exemplos disso a cena em que elas combinam entre si (com ênfase na palavra hanuri, fonetização de “hungry”) como sacar dinheiro aos americanos ou as caveiras de supostos falecidos no desastre, com a inscrição em inglês “The first and greatest glory in human history shines on their head, August 6th, 1945”, que Yukio procura vender aos turistas (num plano subaquático vêem-se mesmo esqueletos com aranhas – talvez radioactivas e a caminho de outro filme). Para se justificar, aliás, Yukio cita uma frase de Monsieur Verdoux de Chaplin: “one murder makes a vilain, a million makes an hero”.

Também aqui, como em J’accuse (1919) de Abel Gance, os cadáveres de crianças e outras vítimas de Hiroshima levantam-se em sobreposição sobre um fundo de paisagem e terreno devastado. Talvez a única imagem justa, porque fantástica, para o filme.
Já no que diz respeito a A Crianças de Nagasaki, antepenúltimo filme (em 1983) de Keisuke Kinoshita, a primeira surpresa, desconforto, tem a ver com o facto do filme ser a cores. A primeira ideia que se tem é que, dado o tema – e o efeito de descoloração e de invisibilização produzido pelas bombas nucleares -, era de esperar que ele fosse a preto-e-branco: como se a cor introduzisse desde logo a desconfiança em relação à ficção (ou forma) do filme, ao contrário do que sucede com as imagens a cores de Dachau tiradas pela équipa de operadores de George Stevens. É conhecida a observação de Godard (Histoire(s) du Cinéma) de que a visão dos campos de concentração nazis teria tido influência no tom apaixonado, à bout de souffle, dos personagens (encarnados por Elizabeth Taylor e Montgomery Clift) de A Place in the Sun (Um Lugar ao Sol, 1951), que Stevens filmou logo a seguir à guerra: o próprio preto-e-branco, contrastado e cristalino, depurado e aguçado por essa passagem pelo “negro” da História, parece derivar do que aí, por ele, foi visto. Se As Crianças de Hiroshima de Kaneto Shindo, em 1952, é a preto-e-branco, 20 anos depois Kinoshita escolhe deliberadamente a cor, aceitando-a como o “distanciamento” necessário (o filme não se pretende “mimético”, nele a dimensão formal/plástica da cor é trabalhada enquanto tal) para que se possa ter uma percepção mais ao rés do chão, justa, do que então aconteceu. Esse gap sobre o qual ele salta e com o qual funciona mantém-se na abertura em que uma voz off fala em japonês, num fundo negro, sobre os acontecimentos desse dia – só depois se percebe que se trata do discurso do papa João Paulo II em Nagasaki, a 26 de Fevereiro de 1983. Aqui, com efeito, tudo tem de ser “reconstrução”, por muito que se tenha imaginado e visto.
O mesmo pode ser dito do “enquadramento”. Desde o primeiro plano, frontal, do interior de uma casa, a geometrização do espaço constitui o factor (operação) que o agarra e permite fazer dele o solo sobre o qual a forma, como rememoriação e acting out do que foi recalcado no passado, pode vir. Não se trata só de aí introduzir uma “grelha”, abstracção, mas de delimitar na terra, por assim dizer aí fazer uma “punção” que depois se (re)elabora, deixando crescer os seus materiais (substância) e raízes (formas) ocultos. Assim, antes do ataque a Nagasaki, fala-se de Hiroshima, que já ocorrera; pela mesma razão, a conversa inicial entre o médico, Takashi Nagai (Go Kati) e a mulher (Midori [Yokiyo Toaki]) sobre a nocividade do uso de raios X no tratamento da tuberculose, contém já em si o efeito de corrosão pelo invisível (ou infra-visível) que depois a radiação atómica exponenciará. Todo o carácter nocturno, construído na sombra, dessa cena inicial do médico com a mulher constrói e preserva um espaço de interioridade, um casulo que depois o excesso de visibilização da bomba eliminará.
Assim como o dr. Nagai, atingido pelos raios-x, em certa medida já morreu, toda a figuração dos três dias que antecederam a bomba (assim como todo o filme) constitui o avant scène de uma história de “fantasmas”: quando o alarme é dado para o ataque do dia 9 de Agosto, às 11h 02mn, Kinoshita filma uma mulher a entrar em casa, fixando-se a câmera num plano perfeitamente enquadrado – num triângulo com duas partes laterais de sombra e uma fresta iluminada – que dá para o exterior (também ele banhado pela luz mas sem ninguém): rien n’ aura eu lieu que le lieu, escreveu Mallarmé. E é o que aqui temos: só o lugar (uma espécie de esquadria do dasein [Heidegger]) tem lugar e quando os personagens entrarem de novo nesse espaço (de) vazio, eles serão como fantasmas (“revenants”) (re)encarnados, vivendo plenamente esse paradoxo que, sabemo-lo desde Bazin, é também o do cinema.
A explosão, o infigurável (“a radiocactividade é invisível”, diz o médico), é dado por planos com dois grandes clarões de luz, depois outro do cogumelo atómico e por fim, em enquadramentos cerrados, sombrios, um plano do céu de onde caem cinzas e pequenos fragmentos de matéria carbonizada. Kinoshita, como Sekigawa, não procura dar o “equivalente” da destruição (a sequência da travessia das ruínas de Nagaski pela avó e Makoto é neutra e curta, acabando na campa improvisada de Midori, de onde recolhem cinzas) já que esta é inferida ou dos relatos sobre ela (os seus efeitos sobre as vítimas) ou, o que é importante, pela forma. Nomeadamente pelo tratamento da cor: as “imagens” do desastre passaram por essa “modulação”, “refundi(a)mento” pelo negro (morte) que as inocula, alastra sob elas, embebendo o castanho já dominante do interior das casas. Assim, quando Makoto, o filho mais velho de Nagai, sabe da morte da mãe, ele, que se encontrava de costas no escuro, no fundo do plano, volta-se e o seu rosto iluminado dá a ver essa refundação, segunda nascença, nos escombros da tragédia.

O reverso desta cena, temo-lo mais tarde, já no início de 1946, quando Masoko, a cunhada de Nagai, desde então retirada na ilha de Goto, o visita. À “interiorização” das feridas (luto) de Makoto, contrapõe-se aqui a sua “exteriorização”: ela, que usa um lenço para tapar uma cicatriz na parte esquerda do rosto (marca, segundo diz então, da “vergonha” que sente por, na altura, ter pensado mais em si do que nos outros), descobre-a. O plano está também dividido em três partes, à direita a avó, à esquerda Nagai e no meio, um pouco à direita, junto à avó, Masoko: cena de interior, o plano contudo abre-se no centro para o exterior, dando a ver vários casebres num descampado com uma elevação ao fundo. O que Masoko esconde, a cicatriz, dá-se a ver à luz, ao fundo: enquanto ela narra o seu acto de egoísmo – correu para o abrigo sem pensar nas crianças que tinha à sua conta – Makoto entra e fica sentado de costas no plano; o pai, então, diz ao filho que peça à tia para mostrar a cicatriz: “Olha bem, deves ver tudo, tudo o que se passou”, comenta. O plano (longo) corta então para a imagem frontal do rosto de Masoko e depois para um plano, também frontal, dela sem lenço e com a cicatriz à vista (ela chega a virar-se para que esta seja mais visível), fazendo corpo e sombra com a terra onde as cinzas de todos os mortos (nomeadamente a irmã, Midori) se fundiram.
O filme termina com imagens da explosão atómica e a reconstrução teatralizada de situações do desastre sobre um fundo, também aqui, coral, de cantata. A ferida abriu-se de novo, a cicatriz de Masoko pulsa e a “verdade” do expressionismo das imagens torna-se enfim possível.
3. No quadro das relações entre “tecnologia” (cinema) e “natureza” (em que o elemento humano se encontra incluído como um dos seus elementos) tem particular importância, no período imediatamente posterior à Segunda Grande Guerra (e em particular no Japão), o filme (catástrofe) de “monstros” (kaiju-eiga), directamente saído do trauma das explosões de Hiroshima e Nagasaki em Agosto de 1945 (e nesta fileira tem particular interesse a variante dos hibakusha, centrados nas feridas e mutações das mulheres, sobretudo, vítimas desses bombardeamentos).
Em Godzilla (1954) de Ishirō Honda ( o termo japonês Gojira deriva das palavras gorira [gorila] e kujira [baleia], sendo um dos muitos deuses / monstros da “água” no Japão), com efeito, dá-se a ver, como se assistissimos a uma erupção vulcânica (revolta ou grito da matéria), à convulsão e nova conglomeração dos elementos que em si configuram a possibilidade de novos corpos (organismos) que transformam por completo a paisagem da natureza (nele, um microcosmos em expansão, encontram-se presentes e confundem-se, num estado de permanente gestação metabólica, terra, água, fogo e mesmo ar).
De facto, de acordo com as interpretações tradicionais, o “monstro” resulta da violenta perturbação do equilíbrio entre o homem e o seu meio ambiente (consequência, aqui, das explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki) e daí a necessidade de compensar esse desequilíbrio tanto pela “morte” do monstro como por toda uma cadeia de “sacrifícios” rituais (um bom exemplo dessa temática ecológica encontramo-la na discussão entre americanos e japoneses no Godzilla (2014) de Gareth Edwards: aí é dito que o projecto de Godzilla é precisamente o de “restabelecer o equilíbrio [balance] da natureza”).
Em The Beast from 20 000 Phantoms (O Monstro dos Tempos Perdidos, 1953), de Eugène Lourié – obra que parece ter influenciado Honda -, o “monstro” – um rodossáurio despertado no Ártico pela explosão de um bomba e que, do ponto de vista da “figuração”, corresponde grosso modo às ilustrações com a sua reconstituição -, depois de uma breve aparição no mar onde ataca um barco de pesca (como sucederá no filme japonês), é visto a acometer de noite um farol situado num promontório.

Trata-se de uma sequência icónica do ponto de vista da figuração, que recorre a diversos meios: por um lado, o uso de maquetas (reduzidas) para o farol e planos distanciados (de corpo inteiro) do monstro em que se vêm inscrever os efeitos especiais de animação (com modelos) de Ray Harryhausen (no seu primeiro filme), o que mantém a imagem no registo da ilustração (desenho); por outro lado, utilizam-se inserts, sobretudo da cabeça do sáurio, a que corresponde um efeito mais aparentemente “cinematográfico”.
Mais diante, temos uma sequência com imagens submarinas, tanto da vegetação e relevos (de novo maquetas) como da população de peixes e cefalópedes do fundo do mar (assistimos mesmo à luta entre um tubarão e um polvo), com recurso aqui a “inserts” fílmicos que contrastam com o efeito de décor (artefacto) das maquetas: o sáurio aparece como aposição às imagens dos seres vivos (fílmicos) e move-se por entre os adereços até que um grande-plano da cabeça se aproxima progressivamente da frente do plano para se fixar na grande boca aberta do sáurio que, como em The Big Swallow (1901) de James Williamson, devora a campânula submarina em que se encontra o Dr. Elson (Cecil Kelloway).
O “monstro”, com a sua estranheza e novidade de figuração, atravessa o registo 2D da “ilustração” e impõe o cinema que encontra, por esses anos (a 1ª metade dos anos 50), no 3D o sintoma do que está para vir: efeitos especiais nas próprias imagens e depois o digital (virtual).
Um pouco surpreendentemente, no filme de Honda (assistente de realização de Sadao Yamanaka nos anos 30 e depois de Akira Kurosawa, já nos 40, e cujo último filme, Mekagojira no Gyakushū [Terror of Mechagodzilla], é de 1975), depois das imagens de mar (na abertura) e do primeiro incidente com um barco de pesca (reminiscente do incidente com o Lucky Dragon 5, atingido pelas radiações de um teste nuclear em 9 de março de 1954 no atol de Bikini, no Oceâno Pacífico), somos confrontados com uma cena com um casal jovem (Hideto [Akira Takarado] e Emiko [Momoko Kochi]), num claro-escuro em que, como num noir americano, a luz, filtrada por estores, listra os dois corpos. Dessa sequência, que é como a declaração de um novo cinema (e não só de Ficção Científica), podemos extrair algumas indicações preciosas sobre o filme: a sua ligação com o noir (ou o thriller de acção / espionagem: o atormentado Dr. Serizawa, com a sua pala negra, assemelha-se a um “mad scientist” ou espião de filme alemão de antes da guerra [Lang, talvez]), o seu cosmopolitismo (os dois jovens discutem sobre o anúncio de um concerto do Budapest String Quartet) e o seu lado de filme de juventude (se o conflito entre”amor” e “dever” que divide o par se liga a um tema tradicional do cinema japonês, a “linha clara” da imagem dos jovens, assim como sinais de modernidade como o cartaz de uma mota no quarto de Hideto ou a guitarra electreficada de um dos marinheiros do Lucky Dragon apontam para uma nova resolução desse conflito).
A primeira aparição do “monstro”, contudo, dá-se em terra (na ilha de Odo), aparecendo a sua cabeça sobre uma elevação de terreno (como noutros filmes de monstros americanos de 1954 como Tarantula de Jack Arnold ou Them! [O Mundo em Perigo] de Gordon Douglas). Disputam-se, então, duas teorias: a “mítica” (folclórica), defendida por um habitante da ilha que diz ser necessário o sacrifício (ritual) de uma jovem local para o pacificar e a do “bom cientista”, o Dr. Yamane (pai de Emiko) (Takashi Shimura, actor habitual de Akira Kurosawa [caso de Ikiru (Viver, 1951)]), o qual defende que Godzilla não deve ser morto pelos ensinamentos que ele pode dar sobre como sobreviver às radiações atómicas. Organiza-se então a resposta governamental a Godzilla, reciclando-se o modelo do “cinema de guerra” (Eiji Tsuburaye, responsável aqui pelos “efeitos especiais”, trabalhou antes nesse tipo de filmes) mas introduzindo uma componente ideológica de discussão política (nacional e internacional) agora conduzida em moldes mais colectivos e democráticos (o “coro” das mulheres evoca o de Ikiru de Kurosawa). Ainda nesta primeira parte do filme (a “insular”) tem-se uma cena importante no laboratório de Serizawa (Akhiko Hirata), entre este e Emiko, sua “prometida”: tem aí particular relevância um “aquário” com peixes que é filmado em travelling, de um ponto de vista aproximado que torna os peixes no seu interior esfumados; Serizawa, instado por Emiko, faz a demonstração da sua invenção, que poderia travar Godzilla e lança uma esfera na água do recipiente: esta fica branca, iluminada, e sem que se perceba bem o que se passou, Emiko solta um grito de horror. Esse blackout da imagem (com desconectação do signo cinematográfico: tem-se som sem imagem) é resolvido mais tarde num flashback em que Emiko conta a Hideto o segredo do cientista: a explosão do disco, retirando da água todo o oxigénio, mata os peixes do aquário deixando deles só as espinhas. Trata-se de uma imagem trauma (sintoma) semelhante às dos corpos reduzidos a cinzas (grafitis) nas paredes de Hiroshima. Todo o filme, assim, é uma “alegoria” (à letra, algo dito por outras palavras, figuras) desse acontecimento.

Depois de uma breve aparição (nocturna) no mar, Godzilla chega finalmente à baía de Tóquio vendo-se a sua cabeça a emergir das águas.
No filme de Lourié, assistia-se já à destruição de Nova Iorque pelo sáurio: tinham-se assim planos da cidade ao fundo e em primeiro plano, numa espécie de “avant scène” (proscénio) alguns acessórios (maquetas) por onde o monstro (animado) circula; também aqui os “inserts” de cenas de rua ou destruição dão o efeito de real e de unidade do todo (que se procura afirmar para lá do assemblage de diferentes meios de figuração). Essa procura de mais ou outro real é bem evidente quando o monstro atravessa o “décor” da parede de um prédio, destruindo o efeito de unidade (verosimilhança) de uma “4ª parede” da representação.
Aqui, contudo, Godzilla é movido por um actor (Harwo Nakajima e/ou Katsuni Tezuki, que tiveram essa função noutros Godzillas) que se encontra no interior do fato (pele) do monstro. Em certa medida, pode-se dizer que há uma regressão ao teatro (fantástico: de máscaras e efeitos) embora se verifique uma melhor ligação – devido aos excelentes efeitos especiais – entre os diferentes tipos de imagem (o carácter nocturno das cenas e o forte contraste entre luz e escuro, iluminando e ocultando os mecanismos utilizados, facilita essa impressão de “ligação”). Por outro lado, o contraste entre luz e escuro, conjugado com os movimentos de massas e a desproporção de dimensões entre o gigantesco (Godzilla) e o minúsculo (pessoas, casas), é elaborado num sentido noir mais expressionista, assente não no grafismo mas na dramaticidade dos volumes.

Se a “electricidade” é sinal de modernidade (planos de postes eléctricos, comboios, centrais de controle ou de comunicação), Godzilla, enquanto figura de cinema (da sua “modernidade”), na sua “estranheza” compósita e medial (já que se trata de uma figura do “mito” = folclore mudada pelo átomo = radioactividade) constitui também uma figura eléctrica: por isso incorpora a luz e a energia que viram contra si e que o tornam mais forte; quando choca com as torres, as descargas eléctricas, numa mutação (em acto) explosiva, fazem um com a massa irregular e encrespada do seu corpo ( o processo da sua mutação, aliás, lembra o de Tetsuo [Tetsuo – O Homem de Aço, 1989] de Shinya Tsukamato): o bafo de fogo e o estrondo do som (acentuado pelo “bruitismo” da excelente banda-sonora de Akira Ifukube, com um ritmo ofegante que lembra por vezes Bernard Herrmann) são já em si figura premonitória do cinema a vir, nos anos 70 e 80.
Se no filme de Lourié, no décor vazio das ruas – um campo devastado pelo excesso de “realidade cinematográfica” do dispositivo formal (imaginante e narrativo) do monstro -, a sequência do combate final decorria na zona de diversão de Coney Island (com os seus rollercoasters e outras atracções), sublinhando-se desse modo o carácter espectacular e artesanal do filme, aqui os materiais incandescentes de que Godzilla, enquanto corpo em fusão, se compõe, dão origem a uma nova “liga” (substância) em que o elemento “humano” (o actor dentro do simulacro do monstro) se encontra incluído e é, no processo, transmutado (como em Tetsuo, precisamente).
What you see is not a movie, mas algo mais “bizarro” (embora se veja uma câmera de TV a filmar na sequência), grita o locutor de rádio que comenta em directo a acção; acrescenta ainda que é como se “a história tivesse recuado 2 milhões de anos”. Duplo erro, contudo: o que é dado a ver é de facto o cinema e o que se apresenta (mais do que “representa” [Burch]) é não o “passado” mas o seu “futuro” – enquanto no filme de Lourié, aí sim, com o fim do rodossáurio, se consumia, nas chamas dos seus décors e efeitos, uma ideia de cinema como artesanato e espectáculo, aquela a que ainda se refere Steven Spielberg em The Fabelmans (Os Fabelmans, 2023) ao citar The Greatest Show on Earth (O Maior espectáculo do Mundo, 1952) de Cecil B. DeMille.

Já o plano de Godzilla, uma massa densa e escura a deslocar-se no escuro da noite (movido, é bom nunca o esquecer, por meios humanos, contínuos ao carácter analógico da imagem e não pela descontinuidade, segmentação, da animação), assim como a sua crista dorsal que brilha / refulge, são já efeitos 3D incorporados na sua massa / corpo (como depois se verá, exuberantemente, em Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki em 2023).
Mesmo assim, como avisa o velho da ilha, é necessário um “sacrifício”, o de Serizawa, que queima os papéis da sua descoberta (o oxygen destroyer) depois de autorizar que ele seja utilizado para “conter” Godzilla: assim, ele e Hireto mergulham na baía de Tóquio para lançar o veneno nas suas águas. Temos aqui uma sequência submarina que, em certa medida, continua e prolonga a dimensão fantasmagórica das cenas com o aquário: os dois homens apercebem-se do vulto do sáurio nas rochas do fundo (plano que evoca a sua aparição na ilha Odo) e enquanto Hireto sobe à superfície, Serizawa fica com o dispositivo que contém o veneno, abre-o, acabando por cortar a corda que o ligava ao barco ( visto por detrás do borbulhar da água, Godzilla parece dissolver-se nela). O monstro ainda vem ao de cimo mas depois afunda-se.
“Não penso que fosse o único Godzilla, se continuarem com as experiências outros aparecerão”, são as últimas palavras do Prof. Yamane, anunciando a continuação da saga.
Já Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki, filme da Toho produzido em 2023 no quadro da celebração dos 70 anos do primeiro Godzilla, é uma obra bem interessante e por várias razões (Yamazaki, num gesto semelhante ao de Zack Znyder com Justice League [2021], lançou mesmo uma versão a preto e branco do filme). Antes de mais, pela forma como se inscreve na tradição cultural nacional e no género do “cinema de guerra” (mas também do imediato pós-guerra) – aspecto bem patente no modo como respeita tanto a questão da “honra” (que trabalha o personagem do piloto kamikase, Shikishima [Ruynosoko Kamiki]) como a da solidariedade de grupo (entre ex-combatentes mas também, num registo mais melodramático, entre pessoas que não se conhecem – seja a família, agora obra das circunstâncias, sejam os vizinhos (Sumiko [Sakura Ando, a mulher de Manbiki Kazokuö [Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões, 2018] de Hirokazu Kore-eda) -, fazendo-o para, no quadro do seu “isolacionismo” de base, popular (manifesto na descrença em relação aos poderes, americano ou japonês), dar a volta à situação, mudando a “cultura de morte” (de que tanto se aproveitou o militarismo dos anos de guerra) numa cultura colectiva de vida (de que um dos exemplos é o pormenor acrecentado da cadeira ejectável do avião usado por Shikisma no combate final com o monstro). Um “isolacionismo” que deve ser também pensado em função da defesa de um modo de produção e de cinema nacional.
Interessa-nos mais, contudo, a problemática da imagem no filme e em particular esse “artefacto” (construção, monumento) que é Godzilla – aqui, como em certa medida já no filme de Gareth Edwards, talvez pela sua proximidade “telúrica” com o mito, um monstro vivo, com uma “persona” própria (por isso é saudado pelos marinheiros que julgam tê-lo abatido) e que incorpora em si a História (neste caso a radioactividade que lhe muda o corpo e faz dele uma bomba nuclear). Ao contrário dos Godzilla americanos, este é uma figura, por um lado, não seca mas húmida (encrespado como uma ilha, na sua dimensão vulcânica, o elemento de que constantemente sai é a água) e, por outro lado, uma figura também não empedernida (reificada e parada numa fase arqueológica da sua forma e fantasma) mas orgânica e mutante (veja-se a sua regeneração molecular no fim). Um aspecto curioso do Godzilla (2014) de Gareth Edwards (de quem não convém esquecer, ao ver este filme, o posterior The Creator [O Criador, 2023]), tem a ver com o modo como, no genérico, ele integra o seu filme na modalidade das metamorfoses genéticas do sáurio: fá-lo através da introdução de imagens da edição original de A Origem das Espécies de Charles Darwin. Aliás, neste filme, Godzilla combate um outro monstro (um MUTO: “massive unidentified terrestrial organism”) que pretende juntar-se a um outro espécime fêmea para procriar ( o “sonho”, recorde-se, da “coisa” de Frankenstein no romance de Mary Shelley).
O clou do filme de Yamazaki, claro, é a batalha final entre a pequena armada “cidadã” (como é dito) e o monstro numa longa sequência tratada como um bailado (desenhado pela coordenação do movimento dos barcos e o de Godzilla) que envolve todos os elementos da natureza: a terra, a água e o fogo, corporizados na criatura, mas também o ar onde evolui, noutra dança sincronizada com os navios, o avião de Shikishima. Assim, Godzilla é a “figura” não só de uma concepção de imagem (uma imagem amálgama, sincrética, áspera e não resolvida) como de cinema – um cinema metamórfico, terreno, que vai buscar substância imagética e fantasmática à própria matéria convulsa dos elementos da natureza. Como escrevia André Breton em L´amour fou, “a beleza será convulsiva [explosiva-fixa, mágico-circunstancial] ou não será”.
4. Curiosos, do ponto de vista do modo como trabalham no quadro da ficção científica a problemática do novo regime de “figuração” da imagem de cinema no pós-Hiroshima (e Nagasaki) são dois filmes de Ishirō Honda ainda feitos nos anos 50: Bijo to Ekitai-ningen (The H-Man, 1958) e Uchū Daisensō (Battle in Outer Space), do ano seguinte, ambos com efeitos especiais de Eiji Tsuburaya (o mesmo de Godzilla em 1954).
The H-Man começa no registo noir (urbano e moderno) dos anos 50/60 (Seijun Suzuki, Ankokugai no bijo [Underworld Beauty, 1958]) em que o universo do crime nos bas fonds nocturnos dos night clubs onde canta Arai (Yumi Shirakawa) se cruza com o “fantástico”: um homem (e depois outros) desaparece(m), dissolvendo-se em água e deixando de si apenas um monte de roupas (e a estranha impressão de vazio dentro delas). O registo do Homem invisível de H. G. Wells (caso de Misaki, o primeiro traficante a desaparecer) intersecta assim o dos hollow men (homens ocos): como observa Roland Barthes em L’Empire des Signes (Flammarion, [1970] 1980), na estética japonesa “a forma é vazia” (ou é o vazio) [88] pelo que todo o requinte, por exemplo, do exercício de empacotagem de um objecto (prenda), delimita e constrói esse vazio (o centro simbólico, essência, do objecto, que pode mesmo não existir), sendo por ele que o “vento” (o espírito: vida) circula; deste modo, continua Barthes, ao contrário do que sucede no ocidente (onde ele é figura da reprodução, se não cópia [vd. mito de Narciso]), aqui o “espelho” é “vazio” , constitui mesmo o “símbolo do vazio do símbolo”: nele, a “reflexão no infinito [das imagens] é o próprio vazio (que, sabêmo-lo, é a forma)” e “nele reconhecemos uma repetição sem origem, um acontecimento sem causa, uma memória sem pessoa,, uma palavra sem amarras“, acrescenta [104] (traduzimos).
No entanto, num segundo twist, o “fantástico” da FC é invadido pela temática (imaginário) do “nuclear” (o filme, aliás, começa com imagens de uma explosão seguidas pelo título de um jornal que refere o desaparecimento de um barco, o Dragon God II, que evoca o Lucky Dragon 5 do incidente de 1954). A referência ao barco desaparecido é recriada no “flashback” de um dos sobreviventes que conta como os colegas foram “devorados” por poças de água – esses seres (entidades) aparecem como manchas verdes, sem forma definida, que absorvem as suas presas.

Segundo o cientista Masada (Kenji Sahara), que estuda o caso, estes seres seriam a tripulação da embarcação desaparecida (ela própria uma espécie de “navio fantasma”) que teria sido atingida pelas radiações de um teste nuclear (americano, claro) realizado na Pacífico. Agora, esses seres (os H-Men) circulam pela água (das sargetas, esgotos, ruas), entrando sob a forma de uma pasta verde nas casas para engolir as vítimas (o filme de Honda, aliás, tem vários pontos de contacto – do ponto de vista dos efeitos e do imaginário – com um filme americano de 1958, The Blob [A bolha], de Irwin Yeaworth e Russell Doughton – com um jovem Steve McQueen – que teve depois um “remake” em 1988, dirigido por Chuck Russell). É exemplar a cena em que essa massa cobre o corpo da bailarina erótica do bar: a capa plástica dessa substância, em sobreimpressão, absorve o corpo (e o carácter físico da imagem) sobrepondo-lhe o registo de um virtual a vir: o imaginário pós-nuclear, assim, desmaterializando os corpos, ou disseminando-os em partículas ou grafismos (as sombras nas paredes), inaugura não só uma nova época da História mas também das imagens, a era do “virtual”. Ao “gigantismo” (simulação de super-real) de um cinema ainda de corpos engrandecidos pela lente da câmera e o jogo da (des)proporção das maquetas (um cinema ainda analógico, do referente [real]), como o de Godzilla em 1954, quatro anos depois, assistimos aqui à passagem para um cinema plástico do virtual que deixa da sua passagem, como recordação, os restos de um fetichismo já ultrapassado: o bikini, sapatos e jóias da bailarina.

Vai-se assim não só do “sólido” ao “líquido” (do “duro” ao “mole”, “fluido”) como deste ao plástico – ou seja, a fragmentação dos corpos (matéria) em moléculas / átomos torna-os uma substância polimorfa, capaz de adoptar / assimilar novas formas (a plasmaticidade dos desenhos animados de Disney segundo Eisenstein), dando deste modo o salto (é o corte contido no processo de sobreposição de imagens) para outro tipo de corpo (volume) de uma natureza diferente do anterior, que será depois o “virtual” (digital). Eisenstein, com efeito, nas notas que escreveu (entre 1941/2) sobre Walt Disney, dizia encontrar na sua obra (sobretudo com as Silly Symphonies, a partir de 1929) “os traços de um mundo metamorfoseado, tirado para fora de si” [23], a que corresponderia a característica da plasmaticidade das imagens as quais, ”ainda sem uma forma estabilizada (como o protoplasma)”, teriam a possibilidade de “se tornar <qualquer coisa>” [28], de acordo com “o sonho de uma multiplicidade fluida das formas” (e matérias) (Walt Disney, Circé, 1991 [33]) (traduzimos). A segunda experiência com a rã dá-lo bem a ver.
A explicação do Prof. Maki (Koreya Senda) acrescenta ainda um dado: é porque ainda permanece algo da ordem do “humano” vivo nessa nova substância que ela regressa ao seu lugar de origem onde se encontram as suas memórias e laços afectivos. O que faz dos H-Man também “fantasmas”, youri confusos, melancólicos e vingativos. Se em The Incredible Shrincking Man (Os Sentenciados, 1957) de Jack Arnold o efeito da exposição à radioactividade se traduzia apenas numa alteração da escala do “humano” (se exceptuarmos, claro, a abertura, no fim, pelo seu progressivo desaparecimento, ao ∞), aqui ela implica uma mudança transgénica que podemos relacionar tanto com a experiência histórica dos bombardeamentos nucleares como com a antecipação de uma outra concepção de imagem (e, portanto, de cinema).
Na parte final do filme, com o plano das autoridades para eliminar os H-Men (pegar fogo aos esgotos onde eles se esconderam) – uma sequência magnífica nos subterrâneos em que se intersectam três acções: a deslocação das manchas verdes nas paredes, a actividade dos exterminadores e a tentativa de fuga do gangster Uchida (Makoto Satō), que raptou Arai (única nota de cor, ela usa um saia-casaco amarelo, no jogo de sombras do conjunto) -, retoma-se o lado de “filme catástrofe” (aqui epidémica), pós-Hiroshima, de Godzilla.
Se o filme começa com imagens (quase sempre as mesmas, o que não deixa de ser sintomático) do cogumelo nuclear, no final as das chamas de onde emergem, como hologramas, as figuras verdes dos H-Men (a nova “condição humana” na era nuclear) fecham o círculo deste pesadelo radioactivo.
A problematização do registo das imagens no quadro da Ficção Científica (aqui espacial) continua em Battle in Outer Space, fllme nipo-americano em Cinemascope (Tohoscope) de 1959 (com efeitos especiais do indefectível Eiji Tsuburaya). A acção é suposto passar-se em 1965 e já temos estações espaciais internacionais no espaço.
A ideia central – plano dos extraterrestres Natal para invadir a Terra – é a de que pelo abaixamento da temperatura se reduz a “gravidade” dos objectos, tornando-os mais leves: assim, as coisas (nomeadamente uma ponte) levitam, introduzindo-se como que um vazio nelas e, claro, nas imagens que lhes permite mudar de estatuto. Como em The H-Man, trata-se de descompactar, deslassar a matéria, alargando os seus interstícios e criando nela golfos de vazio para lhes dar imponderabilidade (vd. imagens no interior da nave espacial ou as imagens nos monitores das naves no espaço). É essa base (suporte) virtual – como a imagem liquefeita dos H-Men – que serve de matriz (ecrã) para as novas possibilidades de imagens (caso exemplar do combate final com os discos voadores que lembra já um jogo de computador). A Lua, onde os astronautas dos dois países (japoneses e americanos) descem para eliminar a base dos Natal, é o local (e décor) dessas experiências. Assim, o real como referente é substituído por cenários pintados e miniaturas que acentuam o carácter flat, bidimensional de imagens onde se pode de facto levitar (a base lunar dos Natal assemelha-se a uma construção de legos).
Curiosamente, a sala do Cinerama de Tóquio, que aí existia desde 1955 (uma hipótese de “cinema alargado” ensaiada também por Abel Gance nos anos 50/ 60, com Nelly Kaplan, sob o nome de Magirama) é um dos alvos, na Terra, das naves dos Natal: a sua explosão (melhor, das maquetas de cartão cuja artificialidade nunca é ocultada), num ligeiro slow motion, lembra-nos a explosão final de Zabriskie Point (Deserto de Almas, 1970) de Michelangelo Antonioni.
Uma era de facto termina e outra começa, para o cinema japonês e o cinema em geral.