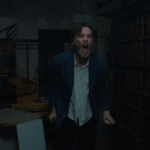Shouldn’t we be somewhere
where something is moving?
– Pond, Claire-Louise Bennett
Na viagem de volta para Lisboa, fiz pouco mais do que pensar no silêncio sentido e absorvido, e de como, depois de uns dias num festival de cinema como o Play-Doc, a imobilidade ao qual é normalmente associado se distanciava da quietude, tendo-se tornado até na sua antítese. Na sua já 21ª edição, o galego Play-Doc decide deixar de lado os exteriores para escarafunchar o interior das coisas (seja de uma região, de uma maneira de viver, ou da análise feita sobre o que se encontra no caminho), e descobrir o que é o movimento e porque é que devemos habitar, ou não, um lugar construído em seu redor. Na fronteira de Portugal com Espanha, e mais propriamente com a Galiza, encontramos uma pequena vila, Tui, onde todos os anos os directores Sara García e Ángel Sánchez oferecem uma pequena curadoria de filmes claros nas suas intenções mas radicais, indisponíveis nos circuitos normais, em particular nos comerciais, onde poderiam até vir a ser considerados impenetráveis. Por causa da diferença horária entre os países, mesmo que se trate apenas de um esticar de mãos pelo rio Minho, o festival que todos os anos se reencontra com a natureza híbrida do documentário habita um lugar cuja identidade se prende na forma como toca no país vizinho. Entre dois fusos horários – dizia-nos García, perante o rio e as casas amontoadas de Valença, que estávamos no futuro a olhar para o passado –, duas línguas variações uma da outra, o papel de um festival a norte às portas do país espanhol só podia então ser o de se aclimatizar a uma imagem mental do que é o retrato, como permanece fixo o suficiente para se mostrar, usando a particularidade de que ali, naquele lugar sob influência, até o que naturalmente se separa acaba por se fundir.

Pela curta mas incisiva competição internacional fora, assiste-se a um iluminar sensorial de lugares física e emocionalmente interiores, inexistentes nos mapas tal e qual luzes que se acendem num diorama, sensíveis à passagem de alguém que olha e inspecciona aqueles mundos muito seus. Quando misturada com uma competição galega, retrospectivas de três grandes realizadores norte-americanos (Elaine May, Monte Hellman e Michael Roemer – impossível pedir mais deslumbre cinemático de uma só vez) aos quais se assiste a um renascimento recente, e uma selecção de clássicos restaurados do cinema indiano e muitos outros espectáculos audiovisuais que se estendem pelo município, é possível regressar à glória de estar presente para cinema que se estripa temática e formalmente.
Num festival tão caloroso como o Play-Doc, o silêncio que reina no seu Teatro Municipal é o silêncio cravado do movimento prestes a irromper, de um futuro que se faz aos poucos, e à mão.
O ponto de partida não podia ter sido mais efervescente. O experimentalista etnográfico inglês Ben Rivers volta às highlands da Escócia com Jake Williams em Bogancloch (2024), no que já é o terceiro projecto juntos, contando com a curta-metragem This is My Land (2006) e a longa-metragem Two Years at Sea (2011), com a sua docu-ficção pós-moderna e subjectiva, com laivos antropológicos que partem para a construção do retrato, mesmo ciente da sua impossibilidade. Como afirmou Rivers numa entrevista aquando da estreia do filme no Festival Internacional de Cinema de Edimburgo (EIFF), na Escócia, tanto tinha mudado no mundo nos últimos anos para toda a gente que seria curioso voltar a visitar o seu amigo Jake, na sua vida diária “off grid” em Aberdeenshire numa casa grande na companhia de uma vasta floresta, objectos que recolhe do mundo e muito silêncio.

Para tal, repete o processo de Two Years at Sea, emoldurando a passagem do tempo pelas estações do ano e fazendo uma selecção de momentos com os quais Jake se vai deparando – do recolher de um animal previamente atropelado na rua, animal este que depois é depenado e cozinhado, ao banho que Williams toma numa banheira antiga com água a ferver no meio dos elementos durante um dia especialmente invernoso – na esperança de filtrar um sentido de felicidade. Que é o mesmo que dizer filmar a corporalidade do gesto que se esmiuça a partir do empenho em filmar a vida enquanto fenómeno momentâneo, aberto apenas àqueles que escolhem estar presentes para ela. Para isso, há que se dar uma abertura a uma paragem, e Bogancloch, mais do que qualquer um dos três projectos de Rivers fá-lo, trazendo pessoas para o mundo de Jake e levando-o também às pessoas. O tempo que passa sozinho torna-se assim ainda mais apurado. Todavia, e tal como Rivers esperava, pouco mudou na forma como Williams continua a escolher viver a espuma dos seus dias, excepto na relação que entretanto o espectador desenvolveu com ele. Importante reter que Rivers criou Jake como as pessoas o conhecem, alguém que escolhe viver de acordo com o seu compasso.
Imageticamente ruidoso e arranhado em textura, num 16mm que é mais prateado que preto-e-branco, Bogancloch é, para quem se deparar com ele pela primeira vez, rigoroso numa suavidade sem limites. Um objecto não-verbal de resistência e rebeldia ao mais alto nível sobre uma realidade que se pode ter como utópica porque é pós-civilizacional. Para conhecedores da obra de Rivers e da sua missão analógica em formar narrativas que se inserem em mundos alternativos e marginalizados, Bogancloch não é nem pretende ser expositivo (dizia o júri da edição do Porto/Post/Doc de 2024 que é “um filme que não é sobre, mas com”) e consegue, por isso mesmo, superar-se na forma como sintoniza uma certa espiritualidade pelo acto de acumulação de momentos subtis de um homem que consegue encontrar, nos declives da natureza, um encosto onde se poderá sentar por tempo indeterminado, acenando a um entendimento tão sábio quanto alucinante de como os mecanismos da vida podem existir sem que de superação sejam feitos. Um reimaginar de como a vida se pode parecer: um recomeço da criação.


Por cima deste ensaio sobre um cinema livre que se deleita no decorrer do “nada”, que nem por segundos se repete ou emula, surgem duas curtas-metragens que abordam organismos que se debatem de igual forma sobre o que acontece no processo do fazer da vida e, em particular, sobre o lado mais destruidor desta. Enquanto El Tercer Paisaje (2024), de Julen Etxebarria, se foca na plasticidade da imagem, na vulnerabilidade analógica da película e abraça como protagonista o fungo que a irá matar, neste caso o mesmo fungo (Microsphaerella dearnessi) que manchou de castanho os bosques do País Basco, infectando o bosque de Oma, trabalho do pintor Agustín Ibarrola, Sincero, Apaixonado (2025), de Margaux Dauby e Raul Domingues, cria a inquietação que corrói através de uma manta de imagens emaranhadas num mosaico que procura figurar o sistema nervoso de um apaixonado, enquanto este rumina o seu amor não-correspondido pelo país fora até à exaustão.
Também aqui nenhum retrato é feito. Talvez comece até a ser esse o corpus do documentário, a nova não-ficção que se torna, aos nossos olhos, tecido da impossibilidade de obter uma qualquer objectividade que não se evidencie enquanto oblíqua e escorregadia. No caso de El Tercer Paisage, a explosão de cores e texturas que passam pelos nossos olhos replicam nada mais que um desejo de reproduzir o êxtase da destruição em tempo real, num ciclo sobre a natureza do que é natural, e como esta se sobrepõe até à arte sobre si mesma, vencendo sempre. Sincero, Apaixonado é, por sua vez, um filme de imagens que procuram um encontro entre si, com vista a formar uma espiral psico-geográfica entre o Fundão e Albufeira e situar o possível vislumbre do Eu anónimo diarista que se ouve (no Q&A com os realizadores é descoberto que as palavras ouvidas são, na verdade, resultado de uma tradução para português feita pelos realizadores depois de encontradas num caderno no Fundão). O filme foca-se tanto na construção de um temperamento ansioso e seu carácter repetitivo para canalizar a pessoa imaginada, que se esquece de localizar um qualquer sentimento. É um filme que se insufla sob si mesmo em vez de deslizar caminho fora.

Do mesmo problema padece La Chambres d’ombres (2024) do colombiano Camilo Restrepo, corpo ensaísta de um formalismo godiardiano que faz lembrar o trabalho de Chris Marker, centrado numa mulher de identidade desconhecida (Élodie Vincent) refugiada num quarto em altura de guerra e instabilidade política, corpo que se expandirá ao longo do filme e funcionará enquanto alegoria para a câmara escura que originou o cinema, onde a força das imagens se verá projectada. O mundo interior de Restrepo é, ao contrário dos filmes vistos anteriormente, puxado pelo fervor político da cinefilia, o seu vibrante esteticismo como se de um pequeno teatro de cores (o vermelho marxista, o amarelo e o azul) e com paredes dobráveis se tratasse. Através de monólogos muitas vezes desconexos, mas presentes para a urgência do que procura ser uma reflexão analítica sobre a humanidade em tempos de guerra, a protagonista vai citando excertos de obras de arte, literatura e cinema (de notar, o magnífico A Girl Chewing Gum [1976], de John Smith, e The Last Movie [1971], de Dennis Hopper) e reunindo materiais e tempos da história da arte – da arte que perdura em cavernas até ao sifão dos nossos dias – para evidenciar a potência da palavra escrita, e de como o ensaio imagético consegue por vezes esfriá-la em vez de a activar.
Encomendado pela Elías Querejeta Zine Eskola em San Sebastián em 2020, Restrepo disse em Tui que fez o filme para “inventar uma nova maneira de ensinar a imagem”, evocando a geometria de túnel de Chantal Akerman e Ernie Gehr, através da mesma abstração estruturalista, de igual forma hipnótica e claustrofóbica, que transforma sombras em ideias como já Bertolt Brecht tinha feito. Enquanto a protagonista existe dentro daquele espaço, onde faz colagens a partir de uma selecção de recortes de revistas, a imagem da guerra à qual não assistimos vai-se fabricando, especialmente num filme sobre representação como este. Onde há refúgio e segurança há prisão, e onde há prisão há um olhar que vigia, subjuga e controla. E isto acontece até e especialmente no dia-a-dia. “A guerra está também na vida quotidiana, estão a restringir liberdades.”, disse Restrepo durante o Q&A. Não tendo conseguido estabelecer uma relação sensorial e de continuidade entre o exterior e o interior no seu filme – secas são as suas dimensões –, Restrepo consegue, ainda assim, fazer submergir um discurso essencial em tempos da omnipresença do domínio das imagens. Enquanto criadores e espectadores somos todos fabricantes delas e uma responsabilidade ergue-se para que escolhamos usá-las como instrumento para activamente participar na vida em vez de ficarmos fechados, num quarto que nem nosso é.

O extremo oposto desse isolamento floresce no memorável 7 Promenades avec Mark Brown (2024), de Pierre Creton e Vincent Barré. Depois de quase duas décadas desde a curta-metragem L’Arc D’Iris: Souvenir d’un Jardin (2006), onde o casal procurava por flores selvagens, em 7 Promenades une-se ao botânico britânico Mark Brown, que guia sete sequências durante o fazer desses passeios pela costa da Normandia partilhando as propriedades científicas da etimologia da flora endémica à região de Pays de Caux. As mesmas sete repetir-se-ão formando a que será a segunda parte do filme, mas desta vez apenas com o herbário, a colecção feita das várias plantas, ao longo do que é um dos poucos road movies onde se pode dizer que se assiste ao destilar da “alma da planta” para melhor se “ouvir o seu som”.
Dando luz ao que permanece mais vezes que não invisível, o documentário surge de um desejo de Brown em recrear no ecrã com Creton e Barré o que tem sido o seu projecto de vida, documentar a linha de montagem de uma floresta privada, planta a planta. O resultado é uma composição de uma serenidade resplandescente que se dá ao acto vulnerável da presença. Dentro do seu fluxo inspira e expira a luz e as texturas do que podemos assumir ser felicidade, por perdurar face à violência humana. Um grupo de pessoas e um cão olham maravilhados para plantas enquanto uma câmara as filma para a posteridade. Ao mesmo tempo do outro lado, os espectadores partilham a experiência, maravilhados com as imagens dessa iluminação. “As pessoas não vão acreditar nas imagens deste filme”, ouve-se a dada altura. É um filme evocativo de um êxtase que se eleva e consegue, de facto, atingir momentos de absoluta claridade. Muito sóbria, muito sábia. Quase como se Derek Jarman (mencionado, claro) estivesse ali presente com eles, também ele um ávido jardineiro que compôs um jardim perto do seu chalé em Kent, no Reino Unido. Perante a unicidade de um manto de flores brancas para o qual não há palavras suficientemente descritivas, o elegante 7 Promenades avec Mark Brown oferece o contexto e uma imagem mental, só depois comparando-o à sua realidade. O cinema enquanto caminho a percorrer primeiro. Numa segunda fase, microcosmo visibilizado, oferecido à memória.

A solidão que assola o espectador depois de ser anestesiado pela clarividência de Creton e Barré é levada para a interpretação de dois filmes encontrados na forma como nos falam das vivências e tradições esquecidas ou ignoradas pelo país fora. Dizia-me o crítico de cinema galego Víctor Paz Morandeira que “Existem dois Portugais. O do litoral e o do interior.” E estes filmes confirmam-no. Com o foco a ser colocado nas pessoas pela primeira vez, Fogo do Vento (2024), de Marta Mateus, é um exercício igualmente sereno, que lembra a aspereza visual de Bogancloch, com a diferença de que estas suas veias são puramente digitais. O foco cintila, sem conseguir realmente sentar-se nas imagens que filma, o que exponencialmente diminui a tridimensionalidade da superfície onde o filme se estabelece, emagrecendo-o até ficar plano sem qualquer curvatura. Mais moldura viva do que imagem em movimento.
Evocando a memória colectiva das pessoas que continuam a fazer da região do Alentejo o que é – mais uma vez, questiona-se de que forma é que a representação escapa ou não ao olhar romântico e, por isso, à fetichização da pobreza e da transferência destes seres enquanto vítimas –, Mateus propõe uma premissa sisuda, que já sabe onde acabará, mais conceito que respiração, que começa em território telúrico, durante a época das vindimas com o polvilhar de sangue de uma rapariga que se corta e atiça um touro, obrigando todos aqueles trabalhadores a subirem a sobreiros, de onde o filme se desenrolará. Primeira longa-metragem de Mateus, Fogo do Vento faz uma trança do real e do imaginado, carnuda na forma como reúne o corpo proletário, os seus desejos e histórias, através dos seus corpos e palavras, e os expõe ao mundo. Sente-se o sol abrasador a pousar na pele que vai queimar, o sopro do vento quente que o acompanha e o olhar exausto mas sábio de quem continua esquecido, inscrito num lugar de acção laboral que permanece pausado à evolução do tempo e do espaço, ao qual não é possível fugir, nem em cima de uma árvore. Tão meditativo quanto poético, o filme flui oralmente, como um protesto comunista. Cada personagem faz parte de uma comunidade, raramente sendo delas mesmas. Talvez nem saibam da possibilidade dessa interioridade. Há tanto de valioso e solidário aqui quanto de angustiante e imóbil.
Começa-se a questionar, pela primeira vez, o conceito de sossego, e se este oferece ou não a ascensão aos oprimidos. E aos incompreendidos. E aos amantes. E a todos aqueles que procuram estabelecer, na quietude, uma relação com o mundo.
Deuses de Pedra (2025), de Iván Castiñeiras Gallego, co-produção portuguesa encontrada na competição galega, dá o passo em frente, num movimento sanguíneo, tanto narrativo como cinemático, sendo produto de uma investigação etnográfica que seguiu uma família e, em particular, a trajectória de vida de Mariana, durante 15 anos (2009-2024). Na fronteira entre Portugal e a Galiza, o filme de Iván é uma recolha de testemunhos vivos de um lugar que se faz não só de quem lá permanece, mas mais ainda de quem o abandona e mais tarde regressa, às vezes para sempre, outras vezes só pelas férias de Verão. Mais concreto que o filme de Marta Mateus na forma como flui dentro de uma cápsula, curto e condensado mas com sumo suficiente para que as suas imagens, algumas belíssimas, perdurem, ilumina aquilo que é a memória do emigrante, da inevitabilidade daquele que sente a necessidade de se retirar dali para o mundo.
Filmado em 16mm, passando do preto-e-branco para a cor rapidamente, como quem tem em mente o futuro mas anseia a textura do passado, estabelece-se o êxodo rural que rodeia a vida de Mariana que não consegue, mesmo com o aproximar dos seus 18 anos, imaginar deixar a mãe sozinha naquele lugar onde as lendas são os verdadeiros guias e o silêncio é tão ensurdecedor que acaba por ter qualidades reparadoras. E isto em casas pobremente isoladas onde o frio congela os ossos durante o Inverno, onde leitões são engordados para a matança e gatos bebés são presos à mobília para não fugirem. Enquanto Fogo do Vento se enchia de signos de morte, na paisagem de Deuses de Pedra lêem-se sinais vitais. O filme opera segundo a vivacidade daquele que viverá sempre entre lugares, aceitando a presença da ausência humana. Entre dois países irmãos, duas línguas e dois fusos-horários, a procura pela identidade é coisa difícil, especialmente quando a passagem do tempo não se une à paisagem ou às pessoas que a compõem. Empilha-se apenas, não admitindo mistura. Ao ver Mariana crescer dentro de si mesma, assiste-se à passagem da existência humana e o olhar sobre aquele lugar altera-se, ecoando o mesmo registo saudoso de Trás-os-Montes (1976), de Margarida Cordeiro e António Reis: “Quando quiseres vem-te embora, que eu tenho muitas saudades.”

O encontro é dado, e através do filme de Iván, deparamo-nos com um espelho de Tui e da experiência tida num festival tão caloroso como o Play-Doc, onde o silêncio que reina no seu Teatro Municipal é o silêncio cravado do movimento prestes a irromper, de um futuro que se faz aos poucos, e à mão. Depois deste fechar de círculo, apenas outro filme conseguiu apontar para a interioridade de um lugar – dialética geográfico-psicológica – e das suas pessoas. Manthan (1976), de Shyam Benegal, restaurado digitalmente pela Film Heritage Foundation e exibido na 77ª edição do festival de cinema de Cannes em 2024, evoca a figura física da mudança na personagem de um veterinário citadino que chega a uma vila na Índia determinado a começar uma cooperativa leiteira. Unindo o mundo dos homens e dos animais, desestabiliza pelo caminho a desigualdade social e estruturas de poder até ali estabelecidas, e abre a possibilidade da igualdade entre todos. Produzido por 500.000 agricultores, 2 rupias por cabeça, no que foi o primeiro filme financiado colectivamente na Índia, Manthan é uma corrente política incansável baseado em factos reais dentro de um filme muito vívido de tão narrativo, a transbordar de diálogo e intriga e pensado enquanto instrumento permeável que incute no espectador a noção de que mudar a sociedade passa por primeiro mudar o indivíduo. Também naquelas vilas, enroladas sobre si mesmas, se começa a questionar, pela primeira vez, o conceito de sossego e se este oferece ou não a ascensão aos oprimidos. E aos incompreendidos. E aos amantes. E a todos aqueles que procuram estabelecer, na quietude, uma relação com o mundo. O cinema, e em particular a sua relação com o documentário, sempre sob influência do real, potencia o gesto locomotivo da partitura. Não é o retrato que é revolucionário, mas o silêncio que nos cobre na tentativa de chegar até ele.