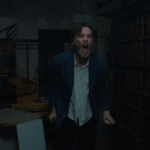Primeiro estranhei, e fiquei curioso. Desconfiado, mas desperto. Haveria um teatro em ruínas sobre o qual uma casa de apostas se interessava, e perguntava se o poderíamos salvar. Mas era verão, a dolência dos dias e o sal nos olhos tornava-me menos ansioso para mergulhar nos arquivos. Mas não durou o tempo de dobrar a esquina do MUPI. Enviei mensagens a amigos, igualmente geeks da história do teatro, e ninguém, alguma vez, tinha ouvido falar num Teatro Dona Amélia, gerido por uma tal de Amélia Colaço, ali ao Campo de Santa Clara (na verdade é o Palácio Sinel de Cordes e houve, de facto, teatro ali muito perto, no final do século XIX), onde nos anos 1960 se teria feito teatro de revista, agora entregue à sorte de uma sobrinha afastada, atriz de televisão mas, sobretudo, corpo em biquíni, como se passou depressa a perceber.

O Pátio da Saudade, o mais recente filme de Leonel Vieira, variação sobre as comédias populares portuguesas depois de O Pátio das Cantigas (2015) e O Leão da Estrela (2019), é um caso sério de filme que não se leva a sério, mas não pelas melhores razões. Pode ser arrumado com a mesma desfaçatez com que é filmado, ignorado com a mesma arrogância com que se constrói, criticado com a mesma veleidade com que se atira à crítica pretensamente social ao sistema cultural.
É muito fácil não levar querer levar a sério um filme como O Pátio da Saudade. Mas não o deveríamos fazer. Se é certo que Leonel Vieira não quer, nem saberia, pela amostra, lançar um debate sobre o estado dos edifícios em ruína que antes foram teatros; não quer ser porta-estandarte de uma renovação de um género teatral como a revista; não faz a pedagogia sobre a importância das condições de trabalho dos atores; aos 58.022 espetadores (que numa divisão pelo número de sessões do primeiro fim-de-semana de setembro, quinze dias após a estreia, correspondentes a 3791, dá uma média de 15,3 por sessão), há alguma responsabilidade no que se apresenta, é preciso olhar para o que ali se propõe e dizer que sim: O Pátio da Saudade lança, é e faz esse debate. Que o faça, inadvertidamente e de forma tão canhestra é que surpreende. Nem os filmes, e espetáculos, nos quais supostamente se inspira, ou usa como exemplo para a defesa do “antigamente é que era bom”, eram tão perigosamente reacionários.
Veja-se, por exemplo, A Canção da Saudade (1964) de Henrique Campos, feito nas dobras e nos restos de uma Lisboa que se imortalizou como se fosse só a que Paulo Rocha filmou em Os Verdes Anos, misto de grito de juventude contra o conservadorismo, onde Florbela Queirós, por um lado, e Simone de Oliveira, por outro, são o alfa e o ómega de duas cidades em contraste. Há blusões negros, há danças ensaiadas pelos bairros, há danceterias abertas até tarde e vistas de Lisboa a partir de faluas no Tejo, tudo enquadrado como se a ditadura fosse eterna e, a espaços, concedesse a graça de desapertar um dos nós do espartilho social e cultural. Nem a este nível de cinismo chega um filme todo ele construído em papelão que não dignifica, sequer, a memória a que passam o tempo a brindar. Ele é urras por “todos os atores e atrizes que fizeram teatro em Portugal”, ele é brindes “ao passado e às saudades dos dias de glória”, ele é a lembrança de que antes “eram tratados com respeito”. E para quê? É que não tinha de ser assim. Os filmes que gosta de citar, e refazer, eram (focando-nos agora na função social que cumpriam) à escala do que se podia e sabia fazer. Não tinham outra ambição senão uma resposta imediata e reconhecível a um contexto político que inscreviam no próprio texto. Aqui, nem isso. Num filme anticlimático, Leonel Vieira aposta na ignorância obtusa do espetador e trabalha uma memória ficcional não para servir a narrativa, mas para impor um discurso, e uma agenda que nem sequer é reacionária, é só crente no exotismo sobre o desconhecimento.
Talvez aquilo que falte a O Pátio da Saudade seja, realmente, conhecimento ou pior, interesse pela matéria que está a tratar.
Terá Leonel Vieira visto O Parque das Ilusões (1963) de Perdigão Queiroga, onde os diálogos de Afonso Botelho, apesar de tudo, protegiam as personagens interpretadas por Eugénio Salvador e Laura Alves, ultrapassados pela realidade atávica e eficaz da máquina do teatro de revista? Ou o ainda mais antigo Os Três da Vida Airada (1952), também de Perdigão Queiroga, fábula amarga disfarçada de comédia social sobre uma cidade a viver das migalhas de ventos de modernidade? Ou mesmo O Diabo era Outro (1969) de Constantino Esteves, onde António Calvário se vê envolvido em negócios que lhe são estranhos? Tivesse visto – com olhos de que quem quer aprender, já que cita abundantemente nomes, e datas e lugares que vem desse tempo onde os atores podiam fazer “as peças com que sempre sonharam”, – e talvez percebesse que o filme que oferecesse é uma sofrível narrativa que desperdiça, nos maneirismos das personagens e num saudosismo sem fiéis, um ponto efetivamente relevante: pode o cinema interferir no real? No caso, e como dizia a misteriosa publicidade do patrocinador do filme – e do espetáculo dentro do filme – pode um teatro ser salvo contra todos os interesses instalados (gentrificação, alteração de costumes, perda de referências, impulsos económicos e capitalistas)?
Saberá Leonel Vieira que o Teatro Nacional D. Maria II apresentava revistas com regularidade até ao incêndio de 1964 (data coincidente com todas as referências de atores e que vai usando no filme, como se se quisesse legitimar), que depois disso foi para o Teatro Avenida e a seguir para o Teatro Capitólio, geridos por Vasco Morgado, o mesmo que queria pagar o que Amélia Rey-Colaço quisesse para entrar, num ato ou cena que fosse, numa revista. E que ainda há quem se lembre de ver a “Senhora Dona Amélia”, como lhe chamavam – e é a quem faz alusão na personagem da tia, dona do teatro que a sobrinha herda – a ir ver espetáculos ao Parque Mayer para descobrir atores, ou manter-se atualizada? Aqui se vê que, se não se pediam biografias nem cinema social, há saberes que nenhuma ignorância legitima. Sobretudo quando se quer fazer – porque é – um filme a fingir defender uma causa.

Leonel Vieira usa o humor como arma de repetição para um confronto que só existe no papel. Os percursos de José Raposo e Alexandra Lencastre bem que lhe podiam explicar que o preconceito que existe sobre o “teatro intelectualóide”, só existe no teatro popular de ficção. Quando coloca uma personagem (Ana Guiomar) a dizer a outra (Carlos Cunha), que se lembra de o ver no Teatro Nacional D. Maria II, e este lhe responde que não foi feito para “um teatro de autor com três atores”, saberá Leonel Vieira das pontes entre o teatro declamado e o teatro de revista (para usar termos que só continuam a existir nos discursos de guerrilha, e para facilidade de arquivo) que nomes como Bernardo Santareno, José de Castro, Maria do Céu Guerra, Rui Mendes ou João Perry ajudaram a refundar o teatro de revista imediatamente antes e logo a seguir à revolução; que até António Pedro – o criador do Teatro Experimental do Porto – e Luís de Sttau Monteiro – o autor de Felizmete há luar (1962) – adaptaram, traduziram e encenaram sucessos como O Pecado Mora ao Lado (1964, precisamente no Parque Mayer, com Florbela Queiroz no papel de Marylin Monroe)? E, sobretudo, que a ideia cristalizada de um género é em tudo contrária ao experimentalismo teatral – dos cenários, das letras das canções e dos temas – que fez do Parque Mayer, e da singularidade desse género, um balão de ensaio e de resistência que, a espaços, permitiu tudo o que, no filme, surge como glória mas não é mais do que bafienta memória? Não pode saber, porque isso implicava enfrentar as contradições desse mito. Em nada disto havia condições de trabalho ou respeito pelos atores – que é diferente de adulação –, público predisposto (que não significa acefalia crítica), que é o motor da personagem principal, farta de ser objetificada e ambicionando “um boost” na carreira. Talvez aquilo que falte a O Pátio da Saudade seja, realmente, conhecimento ou pior, interesse pela matéria que está a tratar. E pelo próprio filme que está a fazer, cujo argumento revolve sobre a mesma graça da atriz que se despe para ganhar dinheiro, e é vista por todos – e agora pelos espetadores – como o epítome do capricho.
Não há, portanto, mais história do que a premissa, até porque o filme se constrói para se autodestruir: nunca vemos o espetáculo que está a ser construído, nunca sabemos mais do que está à nossa frente, porque as personagens não são, como a cidade, aliás, mais do que um cenário.
Quiséssemos ir mais longe, e encontrando virtudes no que é uma desistência, e dir-se-ia que, por uma vez, e contrariamente ao que fez em O Pátio das Cantigas (2015) e O Leão da Estrela, aqui só há uma narrativa, as personagens trabalham todas para um mesmo ponto, e o filme, só peca por confiar pouco em si mesmo. Nem da vantagem de, de filme para filme, manter um conjunto de atores, como se fosse uma troupe, consegue tirar proveito, já que as cenas são feitas como sketches alimentadas por diálogos que “fecham a piada”.
O Páteo da Saudade coloca-se de fora do seu próprio debate, achando que está a fazer graça com isso: diz a personagem de Alexandra Lencastre – que, na gíria da revista, seria a vedeta: “Estamos a fazer um espetáculo, uma obra, um espetáculo e uma obra ou uma obra e um espetáculo?”. Precisamente, neste trocadilho entre obra e edifício teatral, reside o equívoco de um filme sempre em fuga da sua própria narrativa, em que a ideia de construção de um espetáculo para salvar um teatro termina quando o espetáculo começa – truque com que já havia terminado O Leão da Estrela, colocando Sara Matos a dizer que poderia explicar, “mas já não temos tempo”), apesar da graça (ou preguiça) de usar uma canção (mesmo que cantada em playback) da personagem de Alexandra Lencastre na telenovela de maior sucesso, Ninguém como Tu (Rui Vilhena, TVI, 2005).
Até podemos saltar por cima de todas as coincidências, que são incongruências históricas, para justificar a ficção e a verosimilhança; fingir que não vimos as falhas técnicas (ai, aquela colagem de imagens, em pós-produção, entre fachadas de teatros; ai, aquele público que ouvimos a bater palmas, mas na imagem surge sem qualquer movimento; ai, os planos muito apertados para não se ver que não há mais nada à volta; e, ai, os problemas de raccord e de continuidade entre espaços), e ignoremos o o product placement no qual o filme tenta passar por natural – ele é a bomba de gasolina sempre vista de drone, onde se bebem “minis” antes das gravações da sitcom; ele é a marca de café onde o plano se demora –, mas é a esquematização da culpa e da superação nas persistentes crises de identidade da protagonista [que se revê num episódio de um folhetim televisivo que me parece ser Ricardina e Marta (Ana Rita Martinho e Manuel Arouca, RTP, 1989), e onde liberais e conservadores se enfrentam], que afligem um filme apontado a um modelo que nem sequer existe, senão no cinema.
Por exemplo, está sempre a falar da “América”, como se todas as personagens fossem emigrantes exilados da grande depressão, à espera da concretização do sonho. São as lavagens automáticas para cães, os agentes de castings exclusivos, o respeito pelos atores, as danças como nos grandes musicais americanos… Mas como Chelas não é Brooklyn, a story é mais meia-bola e centro do que que west, tem menos panache, menos folhos e menos agudos lançados a partir das escadas de incêndio… Maryyyyy…azinha, eu um dia conheci uma Mariazinha…..

Num texto cheio de automatismos, que aponta as estafadas balas ao “teatro com autor e três atores”, de “mão estendida a pedir subsídio” – o cinismo deveria levar-nos a perguntar: então e as imagens de drones estão lá porque há interesse em filmar “a Lisboa moderna” para lembrar “a Lisboa Antiga”, ou é só para assegurar o financiamento do Fundo de Turismo de Lisboa? –, pouco mais sobra aos atores do que os maneirismos a partir dos quais constroem as personagens.
Se quiséssemos ser indulgentes com o filme, e até poderíamos dizer que a distribuição das personagens segue uma lógica teatral. Assim, estão lá a primeira dama absoluta (Sara Matos), o primeiro centro absoluto (José Raposo), o pai nobre ou velho sábio (José Martins), a primeira dama central absoluta (Alexandra Lencastre), a primeira cómica (Ana Guiomar), o centro cómico (Manuel Marques), os característicos e de utilidade (Carlos Areia, Carlos Cunha, Fernando Rocha, José Pedro Vasconcelos, Óscar Branco), o segundo galã (Gilmário Vemba), e outras figuras que, sem estrutura, servem apenas para distribuir o jogo e compor um leque de sombras com as quais a protagonista vai ter que lidar. São, curiosamente, todos homens, e todos eles à altura da piada interna do argumento da sitcom contra a qual a protagonista quer fugir: “a sitcom que nós estamos a fazer é que é um lixo”.
Perguntamo-nos, espantados, o que terá levado a esta empreitada, se não uma cínica e maniqueísta vontade de manipular grosseiramente um género – o do cinema no teatro – sem os meios, a distância ou o cuidado que, pelo humor e pela denúncia poderiam contribuir para um debate sério, e de conciliação, entre o cinema popular e a memória do próprio cinema português. Certo, Leonel Vieira não faz um cinema de tese, mas ajudava ter lido uns livros e visto alguma coisa. É que os 58.022 espetadores podem ter entrado, e até aumentar, mas para tapar as fissuras do que estão a ver, é preciso mais do que uma campanha publicitária a uma casa de apostas, que, de forma bastante evidente, é isso que é este filme.
E eu que me preparava para mergulhar, entusiasmadamente, na história de mais um teatro abandonado.