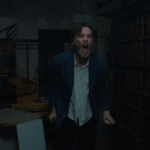He smiled, “Why, you will go home and then you will find that home is not home anymore.
Then you will really be in trouble.
As long as you stay here, you can always think: One day I will go home.”
– James Baldwin
Tanto se fala da procura por um sentimento de enraizamento, um lugar de pertença, em Portugal. São poucos os que se sentem realmente cimentados. Poderá até dizer-se que o desejo de agarrar o que certamente nunca existiu, e foi apenas idealizado após a perda, constitui a nossa espinha dorsal social. É assim que os encontros se dão no presente e o futuro é vivido, sempre com metade do corpo a cirandar pelo passado. Povo colonizador, o povo português vive segundo as rupturas que provocou, as memórias que deflagrou, a liberdade que interceptou. Nesta que já é a 11ª edição do Porto/Post/Doc, a Competição do Cinema Falado coloca tudo isto como pano de fundo, percorrendo os territórios onde a língua portuguesa desagua (da região do Douro à Lisboa cabo-verdiana, e do Rio de Janeiro a Maputo) para, através dela, fruírem provas de investigação que partem sempre de lugares feridos e acabam ou a efabular ou a encarar de frente as realidades com que se deparam, e a partir de onde mais pontes são construídas.

São onze filmes, de durações diferentes, à boleia do circuito de festivais desde o início do ano, que se encontram na intensidade de trazer à superfície retratos de comunidades – alguns embrenhados no poder fantasmático de fazer cinema, outros a serem cinema. De uma forma generalizada, a voz que em Zizi (ou oração da jaca fabulosa) (2025) se questiona como será possível alguma vez tirar da cabeça a ideia de que “filmar alguém é como costurar as pessoas nos meus olhos” dá as mãos ao gesto unificador de Infinito Infinito, Na Imaginação Da Matéria (2025) “onde corpos se tocam, se roçam, se encontram”. Dentro da curta enquanto experimento, do filme-ensaio ou do filme-séance, ou da longa que encontra a realidade na ficção que entretanto projectou (ou será ao contrário, o que vem primeiro?), o documentário enquanto género nunca foi tão escorregadio. Prossegue enquanto ideia de construção, uma espécie de tratado figurativo, que desenha os rebordos de uma só casa. “O nosso quintal”, ouve-se um pouco por todos os filmes, uma pluralidade que tem uma máxima. Quer coser retalhos na mesma colcha, mas mantê-los em movimento. Assim são os organismos vivos. Olhando para o domínio estético de cada um, afunilam-se todos na concretização de uma composição recta, aperfeiçoada. O movimento, a escavação, a luta humana? Ocorre numa dimensão que precisa de ser auscultada.
Quer coser retalhos na mesma colcha, mas mantê-los em movimento. Assim são os organismos vivos. Olhando para o domínio estético de cada um, afunilam-se todos na concretização de uma composição recta, aperfeiçoada. O movimento, a escavação, a luta humana? Ocorre numa dimensão que precisa de ser auscultada.
Maria Henriqueta Esteve Aqui (2025) de Nuno Pimentel é objectivamente o mais exacto a nível espectral. Quer dar uma cara a uma mulher que o mundo nunca viu. E ergue essa ânsia como um troféu pesado que carrega e quer oferecer ao mundo. Viaja até ao Porto, e dentro do que é pensado ser o Grand Hotel du Louvre, pertença de Maria Henriqueta de Mello Lemos e Alvelos, onde ficou hospedado o imperador do Brasil D. Pedro II em 1872, procura esta mulher nos cantos e recantos daquele edifício a 8mm. Seguindo um caminho iluminado por Chantal Akerman, que continua a ser exactificado por James Benning com o seu muscular trabalho de atenção, a emocionalidade do que não é corpóreo mas existe no limiar do olhar não demora muito a dar de si. Ao fixar a lente onde Maria Henriqueta esteve, respirou, viveu, Pimentel é agente do que só pode ser descrito como uma sessão espiritual. No sumptuoso vermelho do veludo das cadeiras e na luz amarelada do papel de parede que faz irradiar calor nas divisões mesmo no escuro, ecos são captados e texturas são apreendidas, enquanto memórias em formato de carta são lidas em voz alta. Assim que trabalha todos os elementos em jeito de acumulação de peças no seu lugar de origem, virão a ser perceptíveis os contornos desta mulher que o realizador agarra para a poder eternizar nos livros da história. Pelo meio, faz um apanhado muito humoroso sobre dois países que partilham tanto mas continuam a não se entender. Maria Henriqueta Esteve Aqui respira sensorialmente e toca-nos internamente. Não é de admirar que nos deixa na linha do horizonte marítimo.
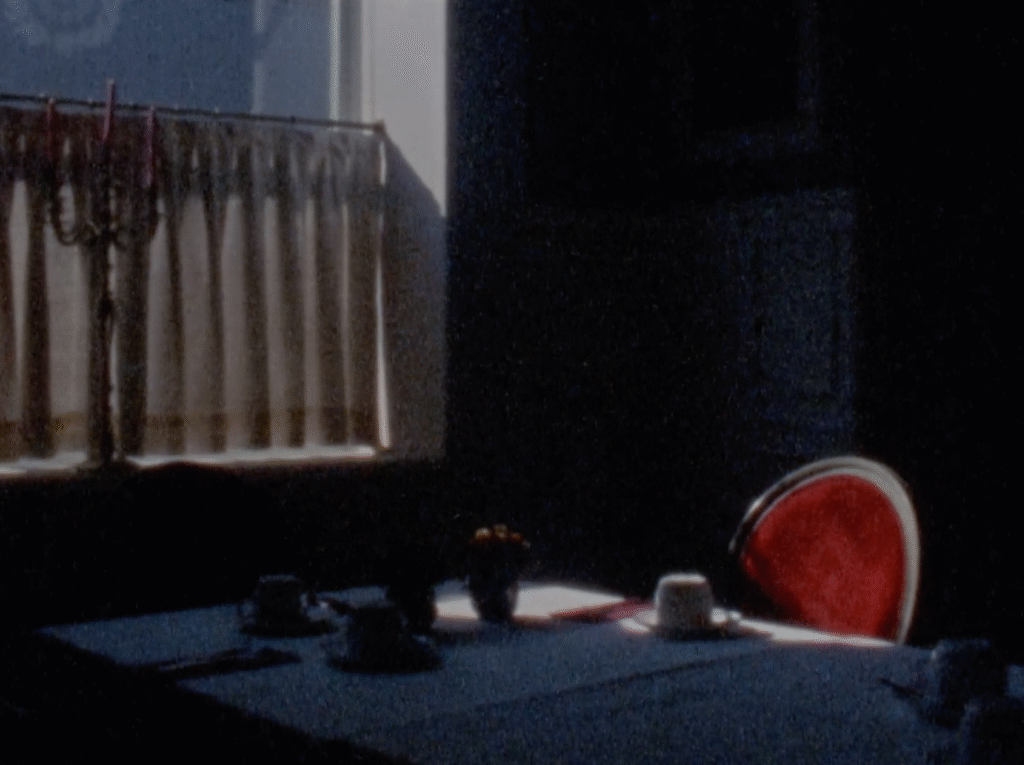
O mesmo poderá ser dito de Claridade (2025), de Mariana Santana, ainda que o seu ímpeto se dê numa horizontalidade mais narrativa em direcção ao testemunhar de um fenómeno de luz no vale do Douro. É, no entanto, também um esforço manual que requer que o desejo o comande. Com acenos bressonianos do início ao fim, Claridade afinca desde logo os seus dentes no romance das suas paisagens. Está apaixonado pelo que filma. O mesmo vermelho de Pimentel encontra-se aqui entre sombras numa casa na colina, a cobrir o corpo do casal que até ao Douro se dirige (seja através de uma camisola ou de uma manta). Quem são eles? E quem serão um para o outro? Ao entrarem numa realidade que não é deles, e por via da fricção entre a ausência e a presença, o campo e o contra-campo, vislumbra-se o fantástico, um certo feitiço que altera as rédeas do filme e lhe atribui um brilho árido não só na linha de montagem, mas também como pegada após estarmos sob o seu efeito. Por causa disso, o filme faz lembrar o desconcertante Stromboli (1950), o mítico filme de Roberto Rossellini, e acaba a evocar um parecido foco de energia. A subida ao vulcão, o amor arrebatado pelos elementos, a forma como nos influenciam. Independentemente da sua veia naturalista e outonal, veremos o filme de Santana a perseguir o efémero. E, de repente, duas mãos encontram-se por breves segundos. Mas nem tudo o que se vê se consegue observar. A descoberta é interior, e o toque mago. A matéria revelar-se-á fechada à melodia, mas aberta a toda e qualquer abstracção. Claridade poderá tomar múltiplas formas.
Mais contundente, mas igualmente enfeitiçado está Samba Infinito (2025) de Leonardo Martinelli que nos lava com um Rio de Janeiro multi-cores em pleno Carnaval. Começamos com Ângelo no passeio, um varredor de rua, olhos tristes e em luto pela irmã que perdeu, que encontra uma criança sozinha e decide ajudá-la. O encontro que Martinelli providencia faz qualquer um vergar-se. Dentro do real, inscreve-se a fábula. E Samba Infinito faz-se, nos seus escassos 15 minutos, de portal, dentro do qual uma mão se estende ao inatingível. É o terceiro fenómeno de luz desta competição, a abarcar esperança e a reunir a personagem ao mundo do qual, pensou, por momentos, deixar. A Última Colheita (2024) de Nuno Boaventura Miranda prossegue a narrativa fabular, mas neste caso o cerne da sua investigação não é só a condição humana. É terreno mais inenarrável: a diáspora cabo verdiana em Lisboa. Num preto-e-branco muito cortante, limpo e plano, de tão digital, Miranda interliga a história de Gabriel, um rapaz de 13 anos que vive receoso de se esquecer da cara do pai – ao que a sua mãe diz “para ele, qualquer homem é o pai dele” – à de Firmino, um agricultor da ilha de Santo Antão que vive alienado num país e numa cidade que não é nem nunca será o seu lugar de pertença. Escondido entre os jardins urbanos de Lisboa, Gabriel tenta descobrir quem é. E Firmino é um corpo e uma voz com a qual ele se consegue identificar. É um filme sobre contemplar a dor apenas sussurrada de pessoas que só conseguem realmente viver nas suas memórias. A Última Colheita entrecorta a sua respiração com quadros de imagens eternas, cores tão acentuadas, a marcar os escapes momentâneos daquele rapaz, da sua mãe e de Firmino da sua alienação. Gabriel no meio do jardim de milho, ou duas mãos que se acariciam entre si elevadas até ao centro da imagem. Miranda projecta o sufoco de um espaço que existe em suspensão, onde o tempo não funciona. Mas é no jardim de Firmino (e na sua perda) que vive e é preservada a memória colectiva e a transmissão geracional, e onde (não) acontece a reunião daqueles que não conseguirão voltar para casa. É o jardim que se faz de portal para uma felicidade incandescente.

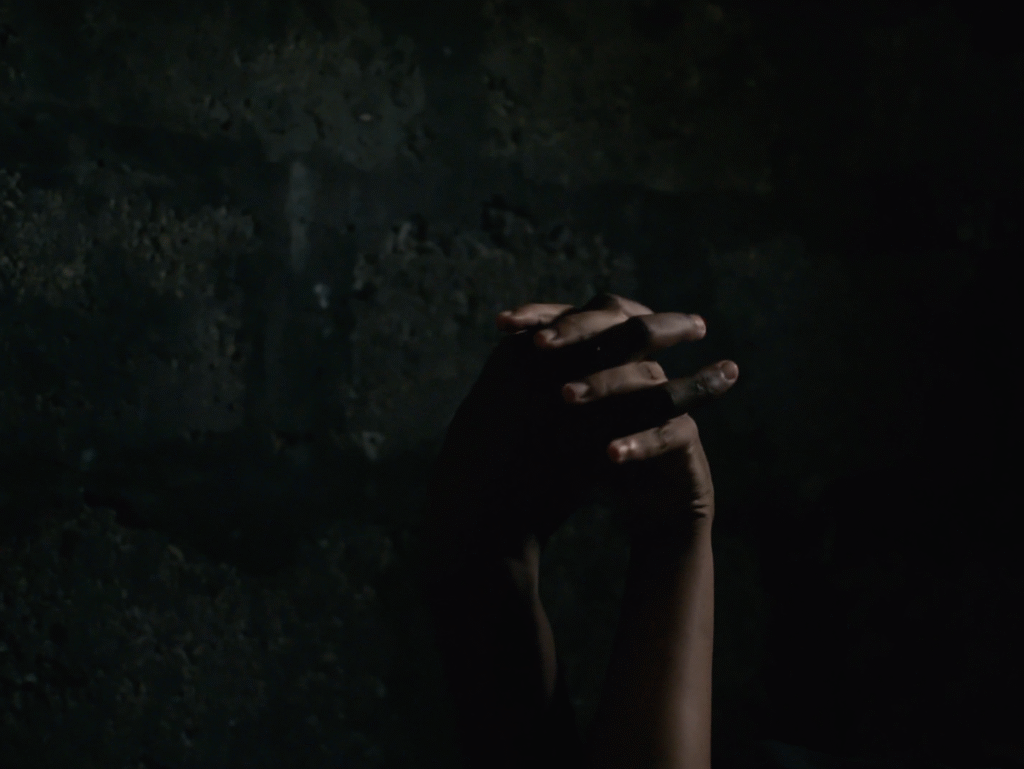

O que encontraríamos então do outro lado desse portal, se do real fosse feito? Muito provavelmente Ku Handza (2025) de André Guiomar. Em Maputo, Moçambique, o realizador português navega as águas privadas da vida de pessoas que observa pelo seu visor. Como acontece sempre neste ditos documentários esquematicamente estendidos e narrativamente lineares, porque se dão ao acontecer da realidade como ela se desenrola, não estará Guiomar a fazer uso destas pessoas em prol da sua necessidade de produção artística? Não estaremos depois muitos de nós a ver este filme através do funil do “Outro”? É sempre a mesma espada de dois gumes, mas uma que neste caso poderá beneficiar do seu aproximar. Em sua defesa, Guiomar protege-se. É um filme de gestos que entrelaça o presente de três personagens, e que de vez em quando pausa em objectos ou arrebata-se com enquadramentos que retratam a pessoa no seu centro. De todos os filmes da competição, é sem dúvida o filme mais tocante, desesperadamente até. Como o título indica em língua tsonga, estas três pessoas lutam pela sua sobrevivência, sim, mas mais ainda pela aquisição de dignidade, ao que o realizador adere contando sempre algo em tudo o que mostra. Crestante é, e perdurará durante muito tempo, a sequência em que Eulália, depois de ter o seu sexto filho, precisa de regressar ao trabalho no aterro sanitário ou não terá como alimentar todos que estão sob as suas asas. A câmara filma-a de trás, do escuro do seu quarto. Numa cadeira de plástico, vemos Eulália sentada perto da luz que entra pela porta enquanto fala ao telefone com um médico a quem pede leite em pó, para não ter que expôr o bebé ao aterro. Rapidamente é depreendido que o médico do outro lado da chamada não consentirá ao seu pedido, porque segundo o que ouvimos “não é saudável para a criança”. Ku Handza deixa-nos com o bebé de Eulália a dormir enrolado em panos no aterro sanitário.
Íntimo e envolvente, a competição do cinema falado centra-se à sua volta. O peso de Zizi (ou oração da jaca fabulosa) é inimaginável, a cronologia inteira do tempo no quintal de alguém, mas o seu corpo físico é só um.
Voltando um pouco atrás, à deriva identitária de A Última Colheita, encontraremos o seu par em Deuses de Pedra (2025) filme sobre o qual deixei algumas palavras aquando da sua passagem pela 21ª edição do festival de cinema galego Play-Doc na primavera. Visto pela segunda vez, a longa de Iván Castiñeiras Gallego, co-produção galega e portuguesa, transborda de afecto e reconfirma a sanguinidade cinemática, especialmente tendo em conta a sua posição etnográfica. Na fronteira esfumada entre Portugal e Espanha, estamos presentes para a trajetória de vida de Mariana durante quinze anos. O jovem realizador contempla a paisagem onde ela se encontra como se tratasse de um ser vivo. O batimento do coração do seu filme é audível, especialmente nesses momentos de paragem, onde é possível perscrutar o eco do passado no presente. Como é que contemplamos um lugar do qual não se entra ou sai? Um lugar sem clara definição de pertença? Deuses de Pedra quer falar sobre território do prisma político-social, mas desce aos alicerces do cinema e conta-nos uma história. Não passa disso. Do contar de uma história entre formas de representação: entre o misticismo do crescer-de-idade e o estudo etnográfico. O tempo passa e passa, mas vir-lo-íamos a passar se não fosse por Mariana? Ela é o barómetro a partir de onde o crescimento se efectua.

Cartografia das Ondas (2025) de Heloisa Machado Nascimento fará, por sua vez, exactamente o oposto. Um filme exaustivo sobre o acto de fazer cinema, onde se abusa da voz-off, já por si um dispositivo narrativo que nunca devia ser usado com frequência, enleia-se no seu apetite voraz de contar uma história enquanto ela é escrita, confundindo criador de criação. Um filme metalinguístico de cores esbatidas e demasiadas vozes que nunca sabe bem o que quer ser ou onde quer chegar. Dir-nos-á, no entanto, que é necessário o mundo inteiro para escrever, perfeito mote para Zizi (ou oração da jaca fabulosa) (2025), de Felipe M. Bragança, um filme-ensaio fantasmagórico e poético-musical, que consegue entre o arquivo, a memória e a encenação, conjurar a avó, a Dona Zizi, uma mulher indígena e negra, e falar-nos do poder da jaqueira por ela plantada no quintal de sua casa nos subúrbios do Rio de Janeiro. Íntimo e envolvente, a competição do cinema falado centra-se à sua volta. Zizi (ou oração da jaca fabulosa) é uma sessão espiritual como Maria Henriqueta Esteve Aqui, e aponta para o mesmo jardim de Firmino em A Última Colheita. Do misticismo à fabulação, o passado está em constante re-construção, o conceito de árvore genealógica expande-se, e o invisível entra no campo de visão. A câmara de Bragança figura formalmente o que Deuses de Pedra faz narrativamente: reflecte a passagem do tempo até abrir o portal da eternidade. É um círculo, e por ele passamos e passamos e passamos numa panorâmica de pessoas no seu devido espaço-tempo e tudo vai mudando, seja pelo comando factual da realidade, ou por resultado da imaginação. Da jaqueira é emitida a corrente eléctrica que alimentará uma família (os vivos e os mortos e os que ainda virão a ser) maior que qualquer casa. O peso de Zizi (ou oração da jaca fabulosa) é inimaginável, a cronologia inteira do tempo no quintal de alguém, mas o seu corpo físico é só um.
Infinito Infinito, Na Imaginação Da Matéria agrupa uma consciência, um organismo vivo que partilha língua, geografia, cultura. É curioso, tonalmente lustroso, e relembra-nos que o acto de viver não é muito diferente do de guiar uma jangada por cima de água com outras pessoas que não conhecemos, ou o de cultivar o mesmo pedaço de terra.
Esse mesmo corpo ver-se-á projectado em Sechiisland: A Vida Como Obra de Arte (2025) de Cláudia do Canto e João Paulo Miranda Maria, e Infinito Infinito, Na Imaginação Da Matéria, de Mariana Caló e Francisco Queimadela. Este segundo é especialmente resplandescente. Oscilando da horta urbana do vale de Massarelos às salas da Faculdade de Belas Artes do Porto, este filme-ensaio exterioriza o percurso feito até então nesta competição. Infinito Infinito, Na Imaginação Da Matéria usa a fluidez da arte como linguagem para igualar toda e qualquer criança em desenvolvimento à sua condição humana. Tendo como ponto de partida o alcance da criatividade enquanto porta de entrada no mundo – “Alguém privado de visão pode esculpir” -, alimenta a imaginação e o carinho pelo outro. Formalmente comum, recorrendo à observação e à entrevista para filtrar a mesma corrente eléctrica que electrizava Zizi (ou oração da jaca fabulosa), Infinito Infinito, Na Imaginação Da Matéria agrupa uma consciência, um organismo vivo que partilha língua, geografia, cultura. É curioso, tonalmente lustroso, e relembra-nos que o acto de viver não é muito diferente do de guiar uma jangada por cima de água com outras pessoas que não conhecemos, ou o de cultivar o mesmo pedaço de terra. Pode não ser casa, e podemos nunca mais lá voltar, mas replicará um call to arms: a invocação precisa de um corpo colectivo forte. Afinal não é assim também que se faz cinema?